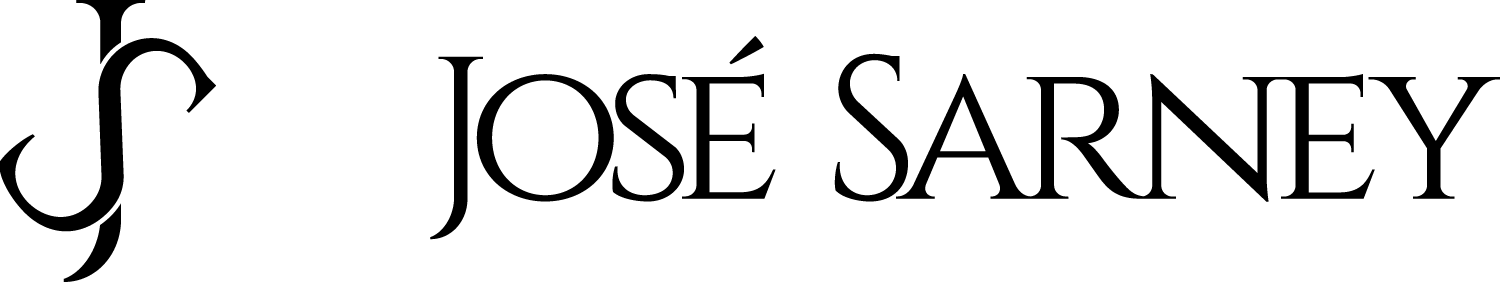A grande jornalista Dorrit Harazin, que certamente tem um dos mais límpidos e melhores estilo da crônica brasileira, levanta esta semana um tema fundamental, o da liberdade do livro. Ela examinou neste último fim de semana o contraste entre como o governador do Illinois, J. B. Priktzer, e o da Flórida, Ron DeSantis, tratam o livro — um como instrumento da promoção cultural, outro como instrumento do preconceito e do facciosismo político.
A ideia da censura está ligada à do domínio. Ela foi praticada desde a antiguidade. O próprio nome vem de uma instituição importante, o census, praticado em Roma desde o séc. V a.C., e dirigido pelos censores, magistratura que era o último nível do cursus honorum. Estes tinham por função não só fazer o censo, o recenseamento — como aquele que levou a Belém o casal José e Maria —, como o regimen morus, o julgamento moral de patrícios e plebeus. Mas Roma não inaugurara o controle do pensamento e da moral. O julgamento de Sócrates é a tentativa de fazer isso com um rebelde às convenções e às tradições, mas sobretudo de dar limites à filosofia. Mas o próprio Sócrates não está livre dessa visão de julgamento extralegal, pois diz “acabais de me condenar na esperança de ficar livres de dar conta de vossas vidas; ora é exatamente o contrário que acontecerá”.
Mas voltemos ao livro. Até o século XV ele é um objeto caro e artesanal. Sua censura é pontual. Além da eliminação do que não interessa ao poder, religioso ou político — quando estes não se confundiam —, há uma enorme quantidade de “limpezas” feitas nos pergaminhos que mostram que ela, censura, acontecia ainda durante a produção do livro, portanto não como censura prévia, mas como “censura durante”. Em matéria de ortodoxia, há hoje grandes estudos sobre o que foi raspado, quando, como e por que — como no disco rígido dos computadores, os pergaminhos raspados revelam, a quem tem a capacidade técnica de ver, o que foi apagado.
A partir dos incunábulos e da difusão gigantesca do livro a preocupação com a censura se expande. A Igreja passa a exigir que os livros tenham um Nihil obstat e um Imprimatur quase ao mesmo tempo que os grandes reinos do Ocidente passam a exigir licenças para imprimir. Mas em 1559 a inquisição cria o Index librorum proibiturum, um “auto-excomungador” automático, pois a excomunhão atingia quem lia, consciente ou inconscientemente, um livro indexado. E indexados estavam os livros de Machiavel e Bondin, Galileu e Pascal, Montesquieu e Locke, Rabelais e Montaigne. Felizmente já naquela época a censura servia muitas vezes de boa publicidade e esses excomungados excomungaram tanta gente que a excomunhão deixou de ter importância e os pensadores tiveram público para a maravilhosa história do pensamento.
Mas a intenção é nefasta, é claro. Ela submete a maior parte das populações, criando preconceitos e promovendo a ignorância. E nós somos mestres nessa matéria, inclusive quando promovemos a visão de que temos que tratar igualmente todas as ideias. O que é falso, como pode ser demonstrado ao examinar a própria questão: como dar o mesmo peso à ideia de proibir que à de permitir? Há questões irresolúveis fora de uma ponderação do bom senso, como a da propaganda antidemocrática. Ela nos impõe um limite que deve ser resolvido não pelo index, mas pelo controle da difusão das ideias. Toda ideia deve ser permitida, mas não em qualquer lugar; e é preciso controlar a difusão da mentira, pedra chave da possibilidade de sobrevivência da democracia no tempo da rede social.
E o livro não é apenas uma ideia, ou várias ideias. É o maior instrumento que o homem criou para que a humanidade continue com seu destino: o da convivência, da coexistência, da sobrevivência. A leitura impositiva e a leitura proibida são os grandes inimigos do livro por serem os grandes inimigos da paz, paz no sentido amplo, paz com o vizinho, com o próximo, com o distante.
Livremos os livros para que o livro nos livre.