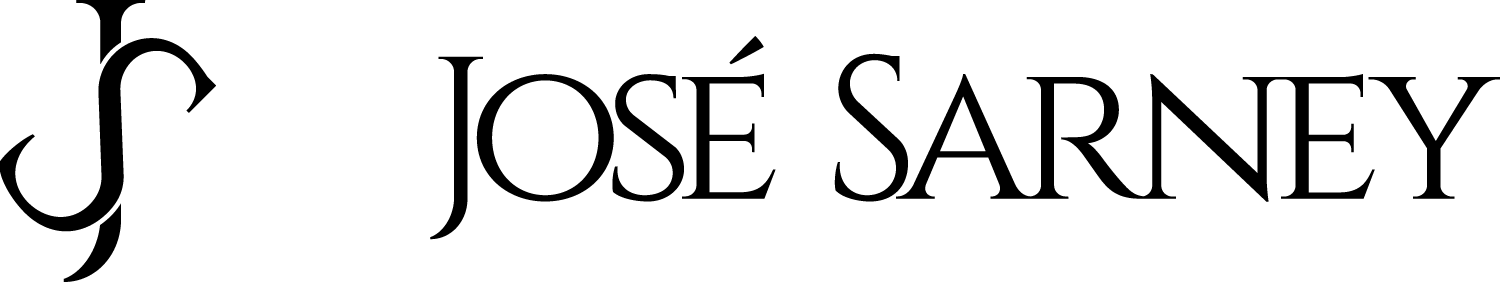Instituto dos Advogados do Brasil, 14 de julho de 1976
Considero o objetivo desse programa conjunto da nossa Câmara Alta e do Instituto dos Advogados Brasileiros, ao comemorar os 150 anos do Senado Federal, como uma tomada de posição crítica do Legislativo, quer sob o ângulo histórico, quer sob os valores imperecíveis da instituição do Congresso, hoje alvo de profundas reflexões negativas e contingentemente forçado a acomodações.
A visão que procurarei testemunhar, nesta palestra, será tanto quanto possível uma visão imparcial e não partidária. Acredito que uma das questões básicas do nosso momento político é a difusão dos reais e profundos significados do Legislativo, como fonte básica de qualquer processo democrático.onsidero o objetivo desse programa conjunto da nossa Câmara Alta e do Instituto dos Advogados Brasileiros, ao comemorar os 150 anos do Senado Federal, como uma tomada de posição crítica do Legislativo, quer sob o ângulo histórico, quer sob os valores imperecíveis da instituição do Congresso, hoje alvo de profundas reflexões negativas e contingentemente forçado a acomodações.
No mundo moderno, o Poder Legislativo perdeu aquele charme romântico que o acompanhou durante todo o século XIX e metade do século XX. Pensava-se que ele era o mundo das decisões e as decisões podiam ser obra de um discurso. Era o tempo em que os plenários podiam ser tocados por palavras, podiam ser vítimas do delírio, do encantamento e do arroubo dos talentos que comandavam assembleias inteiras, e permanecem vivos na evocação dos episódios que viveram. Alguns dos nossos maiores juristas, como Carlos Maximiliano, justificam mesmo o bicameralismo, argumentando que eram necessárias duas Casas, porque uma podia ser vítima do entusiasmo e errar, enquanto era mais difícil as duas apaixonarem-se ao mesmo tempo. Ele afirmava:
“As grandes assembleias, às vezes mais que os indivíduos isolados, são sujeitas ao contágio do entusiasmo e do ódio, ao domínio de fortes paixões.”
“Grandes condutores de homens avassalam a corporação, pelo seu talento, atilamento, eloquência ou audácia. Precipitam-se as votações, reduzem-se os debates, multiplicam-se as questões fechadas, passam os projetos quase sem emendas, pejados de incongruências, cheios de defeitos.”
Talvez aí esteja definida a visão do Parlamento como um conjunto de homens iluminados que deveriam gerir a coisa pública ao embalo do discurso, no aliciamento de apoios para decisões, ideologicamente consentâneas com o conceito de cada um. Machado de Assis teve esta mesma visão, quando, falando do Velho Senado, disse:
“Gracejando entre si e com os outros, tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este País.”
A instituição parlamentar acompanhou, ao longo do tempo, a evolução das concepções políticas. A política é sua meta e vida e, também, dela decorrem seus males e às vezes sua morte. Quando a política definha, definha a instituição parlamentar; quando ela cresce, acompanha-a o Parlamento que é a mais fundamental das instituições criadas pelo liberalismo. Ele é a própria expressão da filosofia liberal. Nos tempos do laissez-faire, o Parlamento era o próprio laissez–faire. Quando os intervencionismos chegaram, atingiram o modo de ser e de agir da instituição e, ao surgirem no mundo as chamadas democracias populares, onde a liberdade é apenas o direito de construir o mundo socialista, na definição de Lenine, o Parlamento nessas áreas passou a ser apenas uma caricata representação da vontade do povo.
Assim, em cada país, o Legislativo é o reflexo de sua política. A visão salvadora da humanidade pelo encontro da fórmula perfeita de governo era justa e compreensível no século XIX, bem como o ideal messiânico e o otimismo que havia sobre o destino dos homens. Para isso contribuía o otimismo das aberturas que surgiam no campo do progresso. Eram a dialética da liberdade de Hegel, a lei dos Três Estados de Comte, as teorias evolucionistas de Darwin e Spencer, a euforia das descobertas científicas, que diziam que a utopia, sonhada há milênios pelos pensadores políticos, seria realidade nesse miraculoso século XX.
As gerações do nosso tempo sofreram um abalo profundo e uma imensa depressão ao sentirem que não seria assim a sorte da humanidade sonhada pelos nossos avós. Daí, a marca do pessimismo filosófico e político, não só no domínio da doutrina, mas na triste realidade que fez desse mesmo século XX um tempo de palavras nostálgicas. Duas grandes guerras, milhões de mortos tiveram de assegurar pelas armas os princípios fundamentais dos direitos do homem. O sistema representativo emanado do povo era contestado pelo nascimento dos estados nazifascistas e pela desintegração do humanismo como filosofia e concepção do mundo. O materialismo dialético e existencial contaminou os espíritos, e criaram-se os primeiros Estados baseados na busca de uma igualdade utópica que colocou o progresso material como única razão do gênero humano, prioritário e absoluto, deixando os valores da pessoa como uma aspiração pequeno-burguesa. Qualquer anseio de liberdade é esmagado como contrário à humanidade. A escravidão ao Estado seria o preço irreparável do progresso social. É bom, aqui, repetir Harold Laski quando diz que a ciência é capaz de promover o bem-estar material, mas incapaz de descobrir a fórmula da satisfação espiritual.
O sonho de um século XX, que realizasse a perfeição das relações sociais, uma justiça angélica governando os povos, os três poderes harmônicos num equilíbrio perfeito, foi o maior fracasso político já enfrentado por uma geração de pensadores e ativistas de um Estado baseado em relações jurídicas incensuráveis. Esse sonho foi uma águia azul, como uma quimera, que caiu exangue aos pés de um mundo mergulhado na euforia da sociedade industrial que, segundo o economista Galbraith, só pensa na quantidade de nossos bens e não na qualidade de nossa vida.
Uma análise comprometida e parcial, de origens totalitárias, passou a confundir as instituições liberais – a maior delas, o Congresso – com as suas deformações. Os seus critérios tomaram as dificuldades presentes como doença mortal e lhe vaticinaram o fim. Foi criada uma artificial contradição entre ordem e liberdade, e a única fórmula considerada viável para alcançar a justiça social seria a existência do Estado-Tutor.
A grande força da ideia liberal é seu poder de adaptação ao tempo, é a inexistência de sectarismo, é a sua capacidade de aceitar as mudanças, considerando que é sempre possível melhorar e que não tem o liberalismo a certeza sacra de uma verdade imutável e passional. A democracia não pode ser julgada pelos erros daqueles que a utilizaram para corrompê-la e subvertê-la, nem se lhe pode debitar a miséria dos povos. Se fracassaram os homens, a instituição mantém-se de pé.
O Congresso, como expressão do liberalismo, ao longo do tempo, sofreu as modificações da política.
Na época do Império, o Senado, como parte do Poder Legislativo, cumpriu sua grande missão. Forneceu grandes estadistas ao País, tomou grandes decisões e foi representativo dentro da estrutura do regime, pois era a presença do espírito conservador e depositário da tradição monárquica.
I – História da instituição através das Constituições fundamentais
(1824, 1891, 1946) e da ora em vigor (1967/69)
Numa visão histórica, podemos assinalar que o Senado, como instituição política, tem-se mantido basicamente inalterado, ao longo da existência independente do País. A grande diferença entre o Senado do Império, por um lado, e todos os Senados republicanos, por outro, é a vitaliciedade do primeiro. Todos são, porém, eletivos, ainda que o do Império obedecesse a um sistema bastante complexo de escolha.
Estabelece a Constituição de 1824, no Capítulo III do Título IV, Art. 45, a exigência de ter o candidato de rendimento anual por bens, indústria, comércio ou empregos a soma de oitocentos mil réis! Era, portanto, um sistema censitário.
Cada província tinha direito a um número de senadores igual à metade do de deputados. E a idade exigida era de 40 anos, com a única exceção dos membros natos do Senado, que eram os príncipes da Casa Imperial e que, excepcionalmente, nele teriam assento depois dos 25 anos.
Procedida a eleição, estabelecia-se uma lista tríplice dos três mais votados, que, submetida ao Imperador, era levada ao debate do Conselho de Estado. A indicação deste podia ou não ser aceita pelo Monarca. Feita a escolha, e diplomado o candidato, coroava-se o processo, iniciado na eleição, com a vitaliciedade da investidura.
Dizia-se que, dos três indicados, o Imperador escolhia sempre a cunha, o menos representativo. Verdade ou não, o certo é que a preocupação maior do Imperador, no preenchimento de cargos no 2o Império, como sabemos, era em relação aos catedráticos do Colégio Pedro II e do Senado da República.
Bem elucidativa dessa conduta, é, sem dúvida, a estória que se conta a respeito do Conselheiro Pedro Luís Pereira de Souza. Numa festa do Paço, ele dançava com a Viscondessa de Cavalcanti. Ele, bem jovem, destacava-se em carreira brilhante, pelos cargos que já ocupara como Ministro de Estrangeiros, Presidente da Província, Deputado e escritor.
Vendo-o dançar, aproxima-se um amigo do Imperador e segreda-lhe:
– O Pedro Luís está maduro para o Senado.
Ao que o Imperador retrucou:
– Mas, ele ainda baila!…
E o poeta da Sombra de Tiradentes não pisou no Senado, porque a morte o apanhou aos 45 anos.
Oposto àquele, há a instituição do Senado Republicano, Câmara temporária como a dos Deputados, e não censitária, em decorrência dos princípios, provenientes do Direito Constitucional americano, adotados na Constituição de 1891, e confirmados em todas as leis fundamentais posteriores.
Divergência significativa entre as constituições de 1891, 1946 e 1967/69 não há, do ponto de vista formal. Todas reduzem a idade exigida para 35 anos, e fixam em 3 o número de Senadores por Estado. Nas duas primeiras, em a Casa presidida pelo Vice-Presidente da República que, no entanto, transferia a função, na prática, ao Vice-Presidente do Senado, sendo o sistema da última, eleição, pela Casa, de seu próprio Presidente. Na primeira, o mandato era de 9 anos, com renovação trienal do terço, preferindo as outras duas o mandato de 8 anos, com renovação, alternada de quatro em quatro anos, do terço e do seu dobro.
Mais significativa é a diferença que, entre a de 1891, por um lado, e as de 1946 e 1967/69, por outro, se estabelece quanto ao processo da eleição, idêntico ao empregado para a Câmara, no caso da primeira, e diferente do dela, a partir de 1946, introduzindo-se a distinção entre o voto proporcional para a representação popular e o voto majoritário para a câmara de representação dos Estados.
Quanto à competência, diferem também entre si as Constituições republicanas. O Senado é sempre câmara revisora. Na Constituição de 1891, à semelhança da do Império, tem o poder de julgar o Presidente e demais funcionários federais designados pela Constituição, por crimes de responsabilidade (no Império eram os delitos individuais da Casa Imperial, Ministros, etc.). O restante pertence privativamente à Câmara ou ao Congresso reunido. Já a Carta Magna de 1946 atribui ao Senado, privativamente, a aprovação da escolha dos magistrados federais, do Procurador-Geral da República, dos ministros do Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal e dos Chefes de Missões Diplomáticas de caráter permanente; a autorização dos empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; a suspensão de execução de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, além da competência do julgamento político do Presidente e dos demais funcionários federais, que nomeia.
A Constituição de 1967/69 soma, às previstas na anterior, a competência de legislar privativamente para o Distrito Federal, e exercer a fiscalização financeira e orçamentária e a de fixar o montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, mediante proposta do Presidente da República.
Com exceção destas diferenças, todas as Constituições, inclusive a do Império, se harmonizam quanto às atribuições do Senado na iniciativa, proposição, discussão e aprovação das leis, à imunidade dos senadores – como dos deputados – por opiniões expendidas no exercício do mandato, e à proibição de serem presos os Senadores sem autorização da sua Câmara, salvo o caso de flagrante delito – ao que a Constituição de 1824 acrescentava: de pena capital.
II – Importância política do Senado no Império
O caráter moderador, portanto conservador, da instituição era agravado, no Império, pelo caráter vitalício da função. Esta vitaliciedade, que dispensava seus membros de prestarem contas aos eleitores, a posição de relativo privilégio de que os titulares gozavam do ponto de vista social, expressa pelo censo alto, e a idade-limite de 40 anos, exigida aos postulantes, tornava a Casa, ao mesmo tempo, “o mais ambicionado e o mais conservador dos centros de poder”. Di-lo Joaquim Nabuco (Um Estadista do Império, p. 324), em síntese exemplar:
“Na vida do homem político, a escolha senatorial era outrora o fato principal; era a independência, a autoridade, a posição permanente, a entrada para a pequena aristocracia dominante.”
Machado de Assis acrescenta:
“… a vitaliciedade dava àquela Casa uma consciência de duração perpétua, que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros.”
O velho Senado funcionava, portanto, como um freio conservador, no sentido não exclusivamente partidário do termo, ao ímpeto da Câmara temporária, mais jovem, comprometida a fundo na luta dos partidos, devedora de obrigações para com o eleitorado, apesar dos limites mínimos em que a este era dado manifestar-se.
Não se esperava que participasse da ação política, não porque a Constituição lhe vedasse, mas por não ser ele a Casa de representação da soberania popular – política – mas a Casa da conciliação entre os interesses das Províncias e os altos interesses nacionais. Era, portanto, da pequena política partidária que se pretendia resguardar o Senado. Ruy Barbosa estabelece claramente este ponto, ao afirmar (Diário de Notícias, 7 de maio, 1889):
“O Senado não faz política; isto é: não está na alçada ordinária do Senado, como está na da Câmara dos Deputados, mudarem, por operação instantânea do seu voto, a direção geral da política do Estado, exautorando os gabinetes, a um aceno contrário da sua opinião.”
“Mas que o Senado possui autoridade política; que a política ministerial não pode nunca deixar de o ter em alta consideração, ainda que lhe não haja de obedecer forçosamente como à outra Câmara, que a sua oposição continuada é um embaraço político; que a diuturnidade franca das suas censuras enfraquece politicamente o Governo; que, por maioria de razão, um gabinete incompatibilizado com o Senado por sucessivas moções de reprovação é um gabinete politicamente insustentável, não pode haver dúvida nenhuma.”
Esta, portanto, a importância política do Senado no Império: ser a Câmara de conciliação e de conservação, por causa da vitaliciedade dos seus membros; e, por causa dela, ser a Casa da “crítica independente dos atos do governo”, no dizer de Bagehot.
É no reconhecimento desta função dupla e dúbia que Ruy fundamenta a mais alta função política do Senado, admitindo a utilidade da oposição política entre Câmara e Senado, base dos sistemas bicamerais, e reconhecendo “ao pariato o direito de insistir em uma oposição que, inspirando-se no sentimento de restabelecer o equilíbrio entre o Parlamento (a Câmara) e a opinião popular é óbvia e profundamente política”. (Queda do Império, 2, pp. 304/305.)
III – O Senado do Império – principais figuras
Os membros do Senado do Império tinham o senso de dignidade própria à “consciência de duração perpétua” da Casa, que Machado de Assis indicou:
“Tinham um ar de família, que se dispersava durante a estação calmosa, para ir às águas e outras diversões, e que se reunia depois, em prazo certo, anos e anos.” (Machado de Assis, “O Velho Senado”, Páginas Recolhidas.)
Esta característica marcava também os trabalhos da Casa:
“Nenhum tumulto nas sessões. A atenção era grande e constante. Geralmente, as galerias não eram muito frequentadas, e, para o fim da hora, poucos espectadores ficavam, alguns dormiam.” (Idem, ibidem.)
É bom recordar a frase irônica de Cotegipe, toda vez que os ânimos ficavam exaltados, lembrando Montezuma:
– Nada de brigas! Nada de brigas. Lembremo-nos que temos de viver juntos a vida toda!
Quando falavam os grandes nomes “mui excepcionalmente, eram admitidos ouvintes no próprio salão do Senado, como, aliás era comum na Câmara temporária; como nesta, porém, os espectadores não intervinham com aplausos nas discussões”. Eram estes homens capazes de provocar a afluência do público, esvaziando às vezes os debates da Câmara dos Deputados. Relembramos os Senadores Euzébio de Queirós, Zacarias de Góis e Vasconcellos, José Thomás Nabuco de Araújo, Cândido Mendes, Itaboraí, São Vicente, Olinda, Abrantes, Francisco Gê Acaiaba de Montezuma – remanescente da Constituinte de 1823, dissolvida por D. Pedro I – Cotegipe, Paranhos – Visconde do Rio Branco. Deste, ficou famosa a longa oração com que se defendeu dos ataques que lhe moviam os opositores de suas gestões, como plenipotenciário no Prata. Falou 8 horas seguidas e de pé. Nesse dia, o Senado transbordou de povo e expectativa. De Montezuma lembra-se a retificação que, em 1823, fez ao texto de uma interpretação ao Ministro do Império, às vésperas da dissolução da Constituinte:
“Eu disse que o Sr. Ministro do Império, por estar ao lado de Sua Majestade, melhor conhecerá o “espírito da tropa”, e um dos senhores secretários escreveu “o espírito de Sua Majestade”, quando não disse tal, porque deste não duvido eu.”
De Olinda, era proverbial a autoridade, e anedótica a surdez. Zacarias era irônico, agressivo, cortante, “fazia reviver o debate pelo sarcasmo e pela presteza e vigor dos golpes. Tinha a palavra cortante, fina e rápida, com uns efeitos de sons guturais, que a tornavam mais penetrante e irritante”. (Machado de Assis, idem.)
“Nabuco, outras das principais vozes do Senado, era especialmente orador para os debates solenes. Não tinha o sarcasmo agudo de Zacarias, o epigrama alegre de Cotegipe. Era então o centro dos conservadores moderados…” “A minha impressão é que preparava os seus discursos, e a maneira por que os proferia realçava-lhes a matéria e a forma sólida e brilhante.”
Havia outros – Olinda, Itaboraí, São Vicente, menos brilhantes, mas cheios de autoridade e senso de dignidade: “… nunca vi rir a Itaboraí”. (Machado de Assis, idem.) E Euzébio de Queiroz, que “era justamente respeitado dos seus e dos contrários. Não tinha a figura esbelta de um Paranhos, mas ligava-se-lhe uma história particular e célebre, dessas que a crônica social e política de outros países escolhe e examina, mas que os nossos costumes – aliás, demasiado soltos na palestra – não consentem inserir no escrito. De resto, pouco valeria repetir agora o que se divulgava então, não podendo pôr aqui a própria e extremada beleza da pessoa que as ruas e salas desta Cidade viram tantas vezes. Era alta e robusta; não me ficaram outros pormenores.”
O “ar de família” às vezes chegava a extremos quase cômicos, como quando D. Manoel de Assis Mascarenhas, que se opunha violentamente a um projeto de subvenção do teatro lírico por meio de loterias, pediu a palavra em uma sessão em que este era o único assunto em pauta, e declarou que pretendia falar até o fim do expediente, de modo que os colegas que tivessem algum assunto a tratar fora do Senado podiam sair, pois não haveria mais discussões naquela tarde.
IV – Importância política do Senado na República
O advento da República redefiniu a função do Senado. Formalmente, como instituição, já vimos não ter havido modificação essencial em sua estrutura e prerrogativas, sendo a Constituição de 1891, de todas as constituições republicanas, a que mais se assemelha à de 1824, ao dispor sobre o Senado. Politicamente, porém, e do ponto de vista doutrinário, seu peso cresceu de ponto. Ruy anunciou na República vir à possível “desoligarquização do Senado”. Bem outra foi, porém, a marcha da história republicana.
Doutrinariamente, o Senado é o guarda da Federação. Nele se representam paritariamente os interesses permanentes dos Estados. Também era assim no Império. Mas a Monarquia, forma centralizada de Estado, impunha a prevalência da Corte sobre as Províncias, dando ao Senado, como vimos, a função de um conselho privilegiado, que, apesar de ter altura política, não desempenhava essencialmente funções políticas. A República Federativa, no exercício autêntico dos seus pressupostos, exige, ao contrário, um Senado ativo, militante, guarda fiel da pureza federativa, da autonomia dos Estados, contra a tendência hegemônica e os possíveis abusos do poder central.
Ruy Barbosa acentua este ponto em seu comentário aos arts. 30 e 31 do Pacto Federal de 1891:
“Tamanha importância tem, neste regime, a representação dos Estados no Senado, que nem por meio constituinte admite o Pacto Federativo alterar-lhe a igualdade…, de modo que, entre nós, como nos Estados Unidos da América, o caráter de mandatário popular, comum a toda a representação nacional, recebe, na função senatória, o selo especial da delegação dos Estados, acentuando-se-lhe assim a inviolabilidade representativa…”
E, reagindo contra as tentativas de submeter a Casa de que fazia parte aos interesses exclusivos do Poder Central, ameaçando inclusive a integridade do mandato dos Senadores, acrescenta:
“De nossos atos só temos que dar contas aos nossos comitentes; o nosso voto pertence respectivamente aos nossos Estados. Neles, portanto, se vai empregar, através de nós, todo arbítrio que tenda a castigar, em nossas pessoas, as nossas opiniões, a limitar em nossas palavras as nossas ideias, a reagir materialmente contra a política da nossa atitude.”
E compara:
“Embaixadores, representando nações soberanas, ou Senadores, representando Estados autônomos, a nós, como a outros, é essencial a independência mais absoluta na cidade comum, no centro escolhido para reunião das suas Assembleias.”
Pode-se dizer, neste sentido, que, se a Câmara é zeladora da democracia, o Senado republicano é o guarda da Federação. E a tal ponto, no Brasil, a República nasceu da luta pela Federação, da necessidade da Federação, que Ruy pôde assimilar o desvirtuamento desta à queda daquela:
“Se na Capital da República se entroniza um poder invisível, perante quem sejam sentenciados nas trevas e executados nas ruas os vossos representantes, esse poder é o supremo revisor das vossas vontades, esse poder é o eleitor real do vossos eleitos, esse poder é o senhor arbitrário do vosso mandato, esse poder absorveu tudo, esse poder é a Constituição, a República, a Nacionalidade; esse poder é o Estado, e os Estados não são nada…”
V – O papel do Senado Republicano
O Senado da República não cumpriu, porém, o papel a que o destinava sua vocação federativa. Não se desoligarquizou – e tanto bastou para que, longe de ser o palco da representação dos interesses de todas as unidades federadas, investidas de igualdade jurídica perante a Constituição, acabasse sendo o lugar da supremacia de uns Estados sobre os outros.
Esta estrutura de dominação refletia-se, internamente, no caudilhismo que fazia da Casa o feudo político de uns poucos chefes, que o manobravam a seu puro arbítrio. Entre eles, o mais poderoso de todos, o condestável da República depois da queda de Glicério, durante o Governo de Prudente de Morais, foi Pinheiro Machado. Vice-Presidente do Senado durante longos anos, Pinheiro Machado usava-o como instrumento de controle da política dos Estados, desnaturando desta forma a natureza federativa da Casa. Há um episódio que, entre muitos outros, dá bem a medida do seu poder e da submissão deste ramo do Poder Legislativo ao seu comando absoluto.
Aprovara-se, no início de 1914, emenda ao Orçamento da Justiça que interpretava as inelegibilidades, considerando que os parentes de Presidentes ou Governadores poderiam ser reeleitos apesar do parentesco, desde que anteriormente já ocupassem o mesmo cargo.
A emenda foi aprovada sem problemas pela Câmara. No Senado, porém, Pinheiro resolveu interferir. Foi à Comissão encarregada do assunto, presidida por Glicério, e ordenou aos Senadores que votassem contra a emenda. Depois, como se não bastasse, começou ele próprio a recolher os votos. Glicério reagiu. Como Presidente da Comissão, cabia a ele apurar o resultado. Mas este estava decidido: a emenda foi rejeitada por unanimidade. Irritadíssimo, Glicério dispôs-se a discutir o assunto em Plenário, acusando o outro de manobrar desabusadamente contra São Paulo. Foi então que Pinheiro ordenou calmamente que se fizesse nova apuração, recomendando a seus amigos que votassem pela emenda, que então foi unanimemente aprovada.
Este poder absurdo nas mãos de um só homem deu ao Senado brasileiro, a exemplo do americano, mas por motivos inteiramente outros, a primazia no sistema político. Nos Estados Unidos, esta preeminência se deve ao caráter mais que federativo – confederado – da União das 13 Colônias. No Brasil, a longa prática da centralização monárquica, e os desníveis regionais, fortalecedores de alguns Estados sobre os outros, acabou criando uma Federação em que a competência residual cabe aos Estados e a competência dominante pertence à União. Este solo histórico, institucional, era propício ao florescimento do caudilhismo e do centralismo exagerado na própria Casa em que a Federação devia afirmar-se. E foi este aspecto monolítico que conferiu ao Senado a prevalência política, no sistema do Poder Legislativo, sobre a Câmara dos Deputados. Só um grande movimento renovador nesta Casa, que obtivesse um forte consenso nas suas estratégias políticas, poderia abalar o prestígio da Câmara Alta, e liberalizar consequentemente o fechado jogo político de então. Este movimento foi o Jardim de Infância de Carlos Peixoto, Elói de Souza, David Campista, Miguel Calmon, James Darcy com o grande apoio de João Pinheiro. Carlos Peixoto é eleito por três vezes consecutivas Presidente da Câmara, duas delas por unanimidade. E, nas manobras eleitorais de 1905 e 1909, opõe-se tenazmente a Pinheiro Machado. Foi o momento de menor prestígio do gaúcho. A morte de João Pinheiro, porém, e o lançamento da candidatura inviável de David Campista à sucessão de Afonso Pena liquida as pretensões de Carlos Peixoto e do Jardim de Infância, cujo episódio, potencialmente renovador, se encerra com a renúncia de seu Chefe à Presidência da Câmara, em 1909.
No fim do quadriênio Hermes da Fonseca, de que Pinheiro Machado foi artífice e condutor, Ruy Barbosa pôde declarar sobre este período dramático da vida nacional:
“Durante quatro anos a palavra bateu aqui como martelo na solidão tumular das catacumbas. Só o eco das criptas silenciosas respondia aos gemidos, aos clamores do sofrimento nacional. Por mais que as pilhas galvânicas da indignação geral para aqui dirigissem as suas correntes, e os acumuladores da reação moral, que agitava a Nação, concentrassem as suas reservas de energia nesta tribuna, o fluido ambiente não determinava nesta Casa um movimento, um sinal de vida. (…) Estas portas não estavam cerradas. Por elas entrava conosco o fragor desses crimes. Mas que fazia o corpo legislativo, quando a consciência pública lhe vinha rebentar aos ouvidos com a justa violência dos seus clamores? Dava algum sinal da sua existência? Abanava, ao menos, a cabeça ao poder? Não. Escutava. Emudecia. Quedava. Obedecia. Chancelava. Servia. Foi esse estado moral o que eu quis exprimir, aludindo à mumificação dos legisladores, às catacumbas do Senado.” (Ruy Barbosa, Discurso dos Apólogos, Obras de Ruy Barbosa, Discursos Parlamentares, 1914.)
Com a morte de Pinheiro, em 1915, fez-se um vácuo no poder. A República, que não cumprira os compromissos da propaganda, entrou numa fase descendente, atravessou o período conturbado de 1922/1930. E a Revolução de 30 se fez em parte contra os políticos profissionais, os oligarcas dos Estados e os das Câmaras. Anos após, a República conscientizou-se da falência de sua tentativa. E, em 1946, começou uma nova fase da vida republicana e surgiu uma nova concepção – liberal, federal e democrática – do papel do Senado na estrutura do poder. O termo deste novo período parece ser o que hoje atravessamos, quando o Senado, comprometido com os rumos do Poder Legislativo, e vigilante dos destinos da Federação, que a República lhe entregou, busca as soluções criadoras para recuperar a estatura da Câmara vitalícia do Império, que a 1a República diminuiu, e encontrar o equilíbrio democrático e federativo entre as crescentes exigências que a sociedade industrial moderna impõe ao Poder Executivo (especialmente em termos de eficiência gerencial e rapidez nas decisões) e o papel político da representação popular e estadual, para o qual a Casa de Nabuco e Paranhos, de Ruy Barbosa, Prudente de Moraes e Gomes de Castro terá fatalmente de descobrir os novos caminhos.
Hoje, acabou-se o Senado antigo, dos tempos do discurso. O Poder Legislativo passou por profundas modificações. Porém, a nostalgia desses tempos gloriosos não deve jamais obscurecer a importância do Congresso nos nossos dias e, principalmente, do Senado.
É que, depois que desapareceram as eleições diretas para presidente e governadores, o Senado passou a ser o mais alto posto a ser disputado em eleições diretas, que galvanizam a opinião pública. Essa eleição perdeu o caráter da representação federativa para ser um confronto de posições. Nas eleições de 74, esse fenômeno foi bem acentuado. É a única forma de voto majoritário, em âmbito de cargo federal, existente. Passou a ser o Senado o ponto mais ambicionado na área política e, por isso mesmo, dentro do regime, ele fortificou-se. As suas atribuições aumentaram e os seus debates tornaram-se fundamentais.
Não é mais aquele Senado em que era raro discutir. O Senado é hoje um corpo vivo, renovado, inovador e uma tribuna aberta. Os grandes debates sobre política e economia enchem os nossos Anais e se a influência do Senado em termos de Poder não é maior, em termos de consolidação do Legislativo é das mais importantes e duradouras.
É que, hoje, não pode ser ontem, e a política é a arte do possível.
O Visconde de Bolingbroke já afirmava que discutir sobre o que deveria ser feito não é só perigoso e tolo: é desnecessário.
VI – Legislativo e Desenvolvimento
Devemos reconhecer que o fenômeno do desenvolvimento, encarado como uma mudança substancial da estrutura da força de trabalho, que em grande parte emigra do setor primário para o setor secundário, ou industrial, e deste para o terciário ou de serviços, provocou uma grande transformação em todos os países, que passaram a ser classificados em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Basicamente, o desenvolvimento é um processo de industrialização que gera grandes tensões sociais e abala todas as relações de classes dentro de uma sociedade.
O Legislativo da era do desenvolvimento é bem diferente daquele da sociedade estática do passado, e tem sido alvo de estudos que buscam identificar as causas de sua fragilidade. Muitas perguntas têm sido feitas aos cientistas políticos a esse respeito, e uma delas é se o Parlamento atrapalha o processo de desenvolvimento, se constitui ele um entrave, se está capacitado a participar do processo e como pode ajudar tal processo. Estas indagações, no fundo, pertencem a uma visão sem nenhum compromisso com o direito e, sim, com uma ótica pragmática da sociedade. Uma coisa, contudo, é entristecedora e de grande evidência: nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o Legislativo é o mais vulnerável de todos os poderes.
O Prof. Ranney procurou definir o que é o Legislativo e, depois, tentou descobrir as causas de sua vulnerabilidade. Diz ele que um Legislativo, integralmente instituído, é:
1) “Uma assembleia organizada, com número relativamente grande de membros.
2) Cada membro é par legal de qualquer outro membro.
3) Uma das principais atividades cooperativas oficiais da assembleia é fazer leis, embora não detenha o monopólio de legislar e nem legislar seja tudo que faz.
4) A assembleia é formalmente investida de alguns poderes independentes e é oficialmente considerada como não sendo títere de qualquer outra instituição governamental.”
Eu acrescentaria uma outra que seria: 5) Ter a consciência de ser intérprete da Nação, por delegação do povo e intermediária entre este e o Governo, com um todo, do qual faz parte.
Numa análise do mundo atual, verifica-se que, nos países em desenvolvimento, a instituição tem enfrentado duras restrições, e mais da metade deles não tem qualquer forma de Legislativo.
Por outro lado, um balanço feito pelo Prof. Wanderley Guilherme sobre governos autoritários, quer militares ou civis, existentes no mundo inteiro, encontra um resultado absolutamente constrangedor. (Estratégia da Descompressão Política, Ipeac, 1971.) Na África, apenas Gâmbia, Botswana e Madagascar possuem governos que ele chama democráticos. Na América, o Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Honduras, Nicarágua e Costa Rica; na Ásia, Índia, Japão, Ceilão, Malásia e Israel; na Europa, Portugal, França, Alemanha, Itália, Islândia, Grécia, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Inglaterra, Bélgica, Suíça, Turquia, Áustria, Chipre. Esse balanço nos fornece os seguintes números globais: na América, 7; na África, 3; na Ásia, 6; e, na Europa, 15.
E se examinarmos o aspecto da existência do Legislativo, verificamos que a Argélia, Bolívia, Birmânia, Burundi, República Centro Africana, Cuba, Daomé, Equador, Argentina, Chile, Gana, Iraque, Lesoto, Líbia, Málaga, Mali, Nigéria, Omã, Peru, Filipinas, Qatar, Arábia Saudita, Somália, Togo e Uganda não têm Parlamento nenhum. (Ranney, A Vulnerabilidade do Legislativo nos Países Subdesenvolvidos).
Essa visão fornece algumas conclusões: 1o) a existência de Congresso é um índice de desenvolvimento político; 2o) quanto mais antiga for a instituição, mais forte e participante do poder é o Legislativo; 3o) os Legislativos dos países em desenvolvimento não têm a mesma força nem exercem as mesmas funções dos países desenvolvidos; 4o) onde existe um Partido único e ideológico, o Legislativo é apenas uma assembleia do Partido único e nada tem a ver com o sistema de poderes, na concepção democrática.
Ruy Santos, no seu livro sobre o Poder Legislativo, chama-o de Poder Desarmado e, por isso mesmo, frágil. O Prof. Ranney, na conferência citada, considera essa fragilidade como resultante do fato de ser esse poder o que mais reflete os seus conflitos internos. Na realidade, o Poder Executivo é o centro do Governo. Nas crises pelas quais passaram os países do mundo inteiro, ninguém pensou em extinguir o Poder Executivo, mas sempre isso se faz contra o Legislativo. Não há exemplo de nenhum país onde tenha sido extinto o Poder Executivo. A única experiência de extinção do Poder Executivo, ou melhor, de governar sem ele, foi feita pelo Congresso americano de 1781 a 1789, nos seus primeiros passos. Essa iniciativa, contudo, fracassou. Dessa época deflui a mais antiga idiossincrasia contra o Governo exclusivo do Legislativo. Cita Wood o que o povo pensava desse Legislativo, dizendo que “uma Assembleia popular não governada por leis fundamentais conterá mais excessos do que uma monarquia arbitrária”.
A vulnerabilidade do Legislativo decorre, também, do fato de ser o “conflito um atributo inerradicável e universal da política”. Acrescenta o mesmo Prof. Ranney que os outros poderes, para decidir, usam um processo interno, homogêneo. As sentenças já são tornadas públicas depois de sentenças; as decisões executivas são coordenadas em âmbito do próprio Governo; as decisões legislativas, entretanto, são feitas de público, com divergências públicas e à mercê de interesses contrariados e ajudados. É comum a opinião de que o Congresso deveria ser uma corte celeste em que todas as coisas se processassem dentro de uma visão irrealista. Esta visão angélica difundiu a imagem de que o Parlamento deveria ser uma assembleia de notáveis e santos, não de homens e políticos. Tem o povo milhões de analfabetos, mas é chocante o fato da existência de um parlamentar não ilustrado. Na verdade, a instituição do Congresso é maior do que a soma dos valores daqueles que a compõem, mas esses valores têm de ser recrutados dentro da sociedade e, se essa sociedade é feita de camadas diversas, o Congresso será tanto mais representativo quanto mais constituir-se expressão dessas camadas.
Comumente, o Legislativo é sempre vítima dessa visão e julgado dentro dessa órbita. Mas o fenômeno não é nosso. Chegou-nos importado e é cada vez mais dramático. Basta considerar-se que, no ano da crise de Watergate, a popularidade do Congresso nos EUA era bem menor do que a atribuída ao Presidente Nixon, que estava renunciando. Essa crise é tão profunda que, em 65, a popularidade do Congresso na grande nação era de 64%, caindo em 10 anos de 21%.
Recente pesquisa feita no Brasil pelo Instituto Gallup, no Rio e São Paulo, sobre as preocupações do povo para com os problemas brasileiros, atestou que menos de 2% da população estava preocupada com o problema institucional. Este fato é alarmante, merece realmente um sinal de alerta para todo o País e justifica iniciativas como esta do Instituto dos Advogados, pois, sem Congresso, não há democracia. Partidos políticos e Congresso constituem a base da democracia e da liberdade. Caso não sedimentemos no País a ideia da necessidade de instituições políticas duradouras, ficaremos à deriva da instabilidade política. O desenvolvimento de um país tem que ser integral: político, econômico, social. E, para aferirmos o nível desse desenvolvimento, teremos de aferir o nível das instituições políticas vigentes.
Daí, a necessidade de uma pregação sobre as ideias básicas que formam o arcabouço da sociedade democrática, aberta, representativa, pluralista. Não basta só o arcabouço jurídico. É preciso que se acredite nas excelências que ele representa. A realidade política tem que refletir a realidade jurídica. A democracia formal nenhum compromisso tem com a Justiça.
Outro pecado terrível da opinião pública, em relação ao Legislativo, é a ideia de que ele deve agir em concórdia e consenso. Muitos acham que o conflito partidário é pernicioso e perturba aquela inalcançável unidade patriótica. Essa é uma posição primária e antiga. Ela existia nos tempos de Washington, que achava que os partidos políticos eram “maléficos”. É dele a frase, no discurso de despedida de 1793:
“Deixem-me adverti-los, de maneira solene, contra os maléficos efeitos dos Partidos em geral.
Servem para dissolver os conselhos públicos e a administração em geral.”
Mas foi justamente o regime dos Partidos, da alternância deles no Poder, que fez com que no caso americano, durante duzentos anos, o Poder fosse transferido e exercido de maneira normal. E, coincidentemente, a nação que isso conseguiu foi a nação que mais cresceu na face da terra, que mais bens acumulou, que mais poderio, mais força, mais influência e mais riqueza produziu.
O nosso Congresso, que está completando 150 anos, pode orgulhar-se de haver sido parte importante da vida brasileira, e o País nasceu dentro dele, com seus defeitos e suas virtudes. Muitas vezes, ao longo da história, tem havido facções que se colocaram contra a instituição do Congresso e contra determinados Congressos. Várias revoluções foram feitas, mas nenhuma pensou em extinguir o Parlamento, embora a nossa época seja de Executivos fortes e de Parlamentos que parecem estrelas que se esfriam.
É que a instituição parlamentar, hoje com 150 anos, é um patrimônio do País, do seu estilo de vida, do seu destino político.
Olhando os Parlamentos do mundo, o nosso muro de lamentações difere pela geografia ou pela situação política e particular de cada caso, mas, em termos de filosofia da instituição parlamentar, a linguagem geral é a de que os tempos modernos provocaram fissuras profundas na vida parlamentar e determinaram a proliferação de formas simuladas, coactas ou emparedadas, numa caricatura perniciosa.
Mas a verdade é que sem Parlamento não há democracia, sem democracia não há liberdade e sem liberdade o homem é apenas uma aspiração de engordar. Para indícios de que vivemos uma época de transição há sintomas de restauração. Há a evidência de que o que está sob suspeita não são os valores da instituição congressual, mas a realização deforme desses mesmos valores. O que conta não é se saber a qualidade ou quantidade dos membros do Congresso, mas a sua essencialidade mesma.
Não há instituição política duradoura que tenha nascido perfeita e não necessite do exercício do tempo para sublimar-se, com uma dinâmica de melhoria. As fórmulas de governo importadas e sem máculas, fruto de composições arbitrárias, elaboradas em angélicos laboratórios ou adivinhadas pela força onisciente, tendem, ao serem transplantadas para a realidade, a alcançar objetivos inversos daqueles que se propõem e pelo exercício se decompõem e se corrompem. Um grande país, como o nosso, não pode se dar ao luxo das improvisações nem dispensar por desnecessárias a perseguição de aprimoramentos constitucionais. Isto não quer dizer que estejamos no terreno movediço das crises insolúveis ou de caminhos que não levam a nada, mas que a meta da democracia é importante e vital, e não será postergada.
Também não está implícito que este fato possa acontecer pela inércia do tempo. Ele será obra de decisão, de vontade e da lucidez dos homens. E um país tão fértil em fórmulas próprias de grande êxito não pode ser estéril nesse terreno. Esta é a hora da criatividade jurídica e deve estar sua elaboração tanto quanto o econômico na mesa do planejamento.
As nossas perplexidades não são monopólio de nosso tempo. Elas existiram ao longo da História e formaram a angústia, o desespero de quantos e quantos pensadores, e líderes políticos tiveram, ao longo dos anos, de forjar as instituições de nossos dias. Mas parece que foi justamente o nosso tempo aquele que foi marcado para o confronto desses antagonismos.
Mas, se é verdade que eles sempre existiram ao longo da História, também é verdade que, se no passado essas preocupações eram privativas dos iluminados ou da inteligência, em nenhum tempo, em espaço tão pequeno – como é o mundo dos satélites – tantos puderam participar de todas as contradições de todos os homens, em todos os espaços.
Época de mudanças profundas; decadência da autoridade e dos valores da religião, desintegração da moral secular, coercitiva, dando asas à libertação das consciências, à satisfação das necessidades pelo domínio da técnica e da ciência cada dia mais colocada a serviço do conforto e da ambição dos homens. O prazer de existir, descoberto pelas novas gerações, deu-lhes armas para contestar todos os valores do passado e do presente, e criar nas ciências, na música, nas artes, na literatura, outros valores e caminhos. A violência, os tóxicos, a pornografia, tudo isso faz da paisagem atual um mundo não em transformação, mas um mundo transformado.
É claro que, neste redemoinho, os valores da liberdade tal qual nós os sonhamos passaram a sofrer seus abalos. Ela não pode ser a liberdade para matar, nem para destruir os homens e os países. E estes, presos a seus valores próprios, têm o dever de preservar a sua sobrevivência. Daí o conflito entre liberdade e segurança, residindo na busca de sua compatibilização o drama de nossos dias. A liberdade não pode ser a filosofia do suicídio nem a segurança o caminho do homicídio.
Não podemos correr os riscos da pressa institucional sem objetivo definido, mas não podemos cometer o crime do seu esquecimento, a lacuna na preparação desse tipo de missão que nos está reservada e atrasarmos a ocupação do nosso lugar pela falta desse embasamento no mundo do Século XX. O planejamento, que é o nosso Deus, não pode abominar esse setor, como um terreno infenso à sua área de atuação prioritária, como desnecessário e até mesmo contrastante. A substituição da democracia pela burocracia é uma tentação do nosso tempo, mas a ela as grandes nações jamais aderiram; ao contrário, se há uma luta nos países de velhas e vitoriosas instituições políticas, é a luta contra a deformação das invocações técnicas que transformaram a burocracia não num instrumento de eficiência governamental, mas num perigoso bypass da atividade política. Ela funciona bem nos países privados da liberdade, onde o poder de criação fica na programação do Estado e onde o homem massificado é um instrumento puro e simples da máquina de produção.
Finalmente, a grandeza da instituição legislativa é a sua essência. Ninguém descobriu até hoje outra que a substituísse. Quanto aos homens, parlamentares, deputados, senadores, eles passam.
Machado de Assis conta como os viu e como eles passaram, e diz:
“E após eles, vieram outros, e ainda outros, Sapucaí, Maranguape, Itaúna, e outros mais, até que se confundiram todos e desapareceu tudo, coisas e pessoas, como sucede às visões. Pareceu-me vê-los enfiar por um corredor escuro, cuja porta era fechada por um homem de capa preta, meia de seda preta, calções pretos e sapatos de fivela. Este era nada menos que o próprio porteiro do Senado!”
Meus Senhores:
A glória legislativa é feita de lampejos, de instantes, de momentos fugidios. Da vaidade de um discurso, de um parecer, de uma emenda, de uma lei, de um momento de brilho que, em seguida, é sepultado nos Anais.
Mas a instituição é sempre um sol. Quando ele se apaga ou sua luz esmaece, a escuridão ou a penumbra caem sobre os povos.