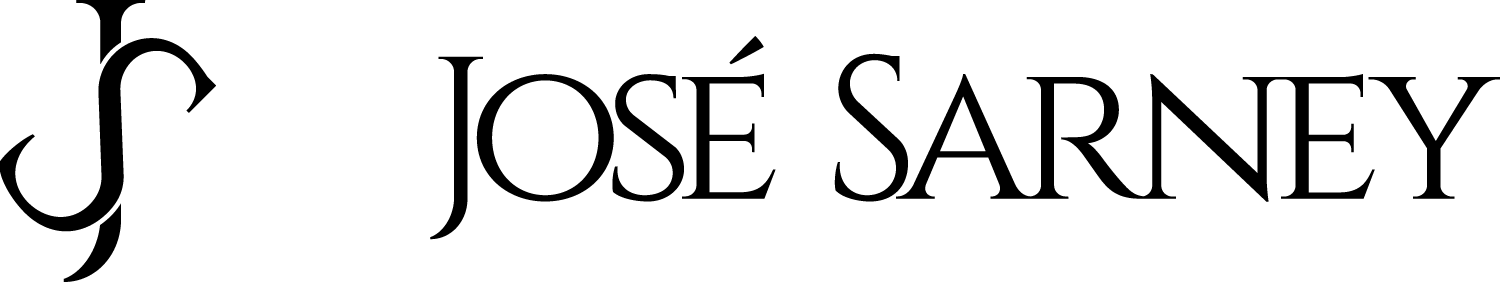Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, RJ, 6 de novembro de 1980
Elogio de José Américo de Almeida
“Profeta das ruas, mago do sertão”
Casa de Machado de Assis, símbolo dos nossos valores espirituais.
À sombra dos meus deuses o sortilégio dos meus caminhos me fez chegar. Nada mais alto, aqui é o infinito. O deus primeiro, o Deus da minha fé, da minha submissão à sua voz semeadora dos destinos, que me guardou nas dúvidas, encheu de certezas os meus clarões de perplexidades, estendeu-me a mão firme de pai para que eu a apertasse o calor de suas crenças; que me criou José, que me fez Sarney e cobriu a minha cabeça da coroa fria e sem vaidade dos dias que me entregou e eu plantei. Encheu-me de estrelas que cintilaram em baldes de juçaras e de sofrimentos, nesta vida, como todas as vidas amassadas no barro frio e duro do trabalho, em dias vividos na alegria mais aberta, de risos e de alvíssaras, horas que cheiravam desde o mais simples canto de aniversário até a paixão sem barragens, das multidões que olhavam nos meus olhos e seguiam os meus passos. Dias, também, turvos, em que sangraram lágrimas e flores murcharam.
Chamas do Bem-Querer
Odes e elegias, vitórias e chagas.
Mas aqui estou, também, sob a proteção de outra divindade, o Criador da convivência, que me deu irmãos e amigos, mesa larga de acalantos, rios de solidariedade, mananciais claros de ternura, gestos de amor e de sacrifício, chamas do bem-querer, vamos-juntos, vida-e-morte. Amigos, extensão de nossas almas, encheram este gosto de existir com a ânsia de que não se apagassem nunca, ligados todos nos meandros tecidos pelo conviver. Louvo os que aqui estão. Fecho os olhos da ausência para pensar nos que aqui estariam. Um deles vou buscar no retiro dos santos para que abençoe este momento: Odylo Costa, filho. Foi ele quem me fez possuir da sedução de subir estas montanhas. Mãos quentes de irmão que apertei a vida toda, mãos frias de eternidade que num domingo cinzento de agosto, aqui, nesta casa, beijei, na saída da morte.
A Academia era para mim um horizonte longínquo. Leve sedução transformada na ambição que, sem coragem de ser desejo, era um desejo de desejá-la e, desejando desejá-la, tornou-se desejo, esperança e sonho. Sonho que se realizou e, como diz Jorge Luis Borges, quem realiza um sonho, constrói uma parcela de sua própria eternidade.
Chego trazido, acima de tudo, pela vocação das letras, que me fascinaram desde menino, quando ouvia nas madrugadas o meu velho avô, mestre-escola de uma pequena cidade das fraldas da floresta amazônica, tanger os bichos para o curral, recitando redondilhas de Camões. Esse canto das rimas e da transfiguração das palavras era como uma toada de aboio que eu não entendia, contudo me levava do despertar ao feitiço dos sons que tinham o misterioso encantamento da levitação e da fantasia.
É este avô a marca dessas querências literárias. Tempos para lembrar o primeiro olhar àquele velho livro, na estante tosca, que se abriu e mergulhou-me nos primeiros versos: As Primaveras, de Casimiro. Vejo o couro envelhecido, páginas amarelas, livro de interior, sofrido, amargo.
A vocação da política veio-me do outro avô, de quem ouvi legendas de sagas e violas. Era outra magia, a do menino parado em meio à gente grande, assistindo na noite silente dos campos, ao mar do desafio, entre lamparinas de bicos largos e fuligens por todos os caibros, tiquiras e meladinhas, noites da fazenda, só os homens e as estrelas. Crescia a cantoria, a viola, o quadrão, a choradeira, o repente, o romance e o baile como maré, nas altas e baixas das luas, ganhando a noite de pregões e rimas, no trotear das mangações violentas, marcadas por bichos, terra e gentes.
Essas marcas não morreram com meus avós.
A extraordinária figura de meu pai sintetizou as duas vertentes: das letras e da política.
Sensibilidade e inteligência, gosto e saber. Em nossa casa, nunca existiu estante vazia, nunca se fecharam os ouvidos à voz do destino dos pobres. Orgulha-me dizer: “Causa fuit pater his”.
Minha infância está povoada dessas visões que apontaram o caminho da vocação onde jamais consegui chegar. Mas se na vida fui deixando pelas ribanceiras dos rios, nas travessias das lagoas, na enchente das decepções, desejares, gostos, anseios, ambições e quereres — à literatura não deixei. Foi o meu refúgio, e não passou dia nem noite sem que para ela eu não tivesse um aceno, um olhar, um convite de noivado. O mundo da criação literária deu-me condições de suportar o saibo das amargas. A esta fidelidade, a este amor sem volta, a vossa escolha reconheceu. E agora, na comunhão dessa paixão comum, estou aqui, menor que todos vós e maior do que eu mesmo.
Maranhão, Poesia e Cravo
A força poderosa da tradição cultural da minha terra obrigou-me a este gesto de audácia. Maranhão geográfico que vai das areias brancas dos lençóis do mar às barrancas vermelhas que morrem no Tocantins. Das serras que têm nome de Gado Bravo, das Meninas, da Chita, do Penitente, do Piracambu. Das Chapadas de Mangabeiras, do Peito de Moça, do Urucurana. Cidades como Olho d’Água das Cunhãs, S. Benedito do Rio Preto, Pinheiro do Pericumã, São Bento dos Peris, Buriti da Inácia, Vila de S. José das Mentiras, do Vale-Quem-Tem, do Quem-Diria, Centro dos Boas, Buritirana, Jejuí, Bom-Lugar, Pinto-Velho, Pau-Caiado, Água-Fria, Boi-Morto, Salvaterra do Destemor, Canafístula do Jovino.
Padre Vieira diz que o Maranhão está nas escrituras sagradas, nas Profecias de Isaías:
“A terra de que fala é terra que usa embarcações, que tem nome de sinos; e estas são pontualmente os maracatins dos Maranhões.”
Claude d’ Abbeville, que escreveu a História dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e fez parte da missão da ocupação francesa, afirma:
“Não há neste país outro jardineiro senão Deus e tão-somente a natureza cuida das árvores, dos enxertos e das podas. Haverá melhor jardineiro? E em verdade o Maranhão na terra do Brasil é bonito, bom e tão bem ordenado que com acerto se pode dizer: hortus odoratis cultissimus herbis.”
E o Capitão holandês Morris de Jonge, pedindo que o povo de Nassau não saísse do Maranhão?
“O lugar, pela sua fertilidade e amenidade, bem pode ser comparado ao Jardim do Éden.”
Vieram os portugueses e Simão Estácio da Silveira, navegador do século XVIII, alerta os lusitanos:
“Eu me resolvo que esta é a melhor terra do mundo, onde os naturais são muito fortes e vivem muitos anos, e consta-me que, das que correram os portugueses, a melhor é o Brasil, e o Maranhão é o Brasil melhor.”
Não fosse o Maranhão eu aqui não estaria. As letras no Maranhão dão título de nobreza e brasões de prestar.
Maranhão, onde os púlpitos guardam até hoje a voz de fogo daquele Padre clamando contra o morticínio e escravidão dos índios: Vieira, o Vieira que escrevia e falava com os homens comuns, reis e Deus, orando e protestando com a mesma voz.
Maranhão de Luís Alves de Lima, que afirmava em sua proclamação de despedida ter “saudades do Maranhão”. Quem era seu secretário, cronista da guerra? O poeta Domingos Gonçalves de Magalhães, fundador do romantismo no Brasil, que escreveu Suspiros Poéticos e Saudades.
Não só o Maranhão passado, também o contemporâneo, tão grande quanto o outro, com poetas como Odylo Costa, filho, Bandeira Tribuzzi, Ferreira Gullar, José Chagas, Lago Burnett, Luci Teixeira, Nauro Machado; historiadores como Jerônimo Viveiros, Rubem Almeida, Mário Meireles; escritores como Franklin de Oliveira, Domingos Vieira Filho, João Mohana, Carlos Madeira, Nascimento Morais Filho, Jomar Morais, Reis Perdigão, Bandeira de Melo, Carlos Cunha e tantos outros; mestres da língua, como Joaquim Campelo, brilhante colaborador de Aurélio; pintores como Floriano Teixeira, Péricles Rocha, Antônio Almeida; romancistas da culminância de Josué Montello, que tem hoje lugar sagrado na história da literatura brasileira.
E, se passarmos do Maranhão erudito para o Maranhão popular, chegaremos à beleza anônima dos folguedos das cheganças e do boi-bumbá, da língua do povo cheirando a poesia e cravo, à cantiga inocente e maliciosa de João do Vale, no Pisa na Fulô, ou o grito de uma nova Canção do Exílio, dessa extraordinária cantora brasileira, Alcione, filha do cantador Nazareth: “Oi Maranhão, oi Maranhão…”
Dos 40 membros iniciais da Academia Brasileira de Letras, cinco eram do Maranhão: Artur Azevedo, Graça Aranha, Coelho Neto, Aluísio Azevedo e Raimundo Correia. Dos escolhidos para patronos: Gonçalves Dias, João Lisboa e Joaquim Serra, Odorico Mendes e Sotero dos Reis. Depois vieram Humberto de Campos, Viriato Correia, Odylo Costa, filho. E temos Josué Montello.
De quem recebe parecer — depois Lei no 726, de 1900, de iniciativa do Deputado Eduardo Ramos — o projeto que concedia sede à Casa? Do chefe político maranhense, senador Benedito Leite. Escreve, na ocasião, Lauro Müller a Machado de Assis: “Vejo que anda bem informado, porque de fato entreguei o Projeto da Academia ao Senador Benedito Leite, maranhense e, portanto, ateniense, quer dizer, homem de saber e de bom parecer”. E Benedito Leite relata a proposta: “Recusá-la seria desconhecer a utilidade das letras e ter amor à obscuridade”.
Norte das Águas
Meu acompanhamento não se esgota. É o instante dos meus dragões, e entram minha gente, minha alma, meu vinho. São amigos para a vida e para a morte, ponta de faca e disputa de moça, que nasceram dentro de mim e em mim cresceram. Só nós, eu, o tempo e eles. É gente de alpercata, pé dilacerado pela caminhada longa. Dos sertões úmidos do Brejal para o lusco-fusco desses brilhos. Peço licença para invadirem o salão e abancarem-se como se estivessem debaixo de um pé de tamboril. Que tirem os farnéis, puxem viola, citem as flores bestas da jitirana e do boizinho-de-são-caetano, invadam a Casa com a fatiota lavada e os aromas das cantigas, sebo-de-holanda e azeite de mamona, chitas de ramagens alegres, jasmins e chumbinhos. Venham Olegantino, Amordemais, Flordasina, Dordavida, Frasmamédia, Padecência e Ordivo, Merícia, Javali e Zé do Bule. Maribondos de fogo que ferem, picam e devoram, falando das gaiolas vazias com o sopro do adeus, as novilhas berrando nas noites e as águas conversando:
“…águas nos cercaram, vindo do céu de todo lado e o vento zumbindo e as águas caindo e todas gritando como um bando de moça donzela, assim como se fossem moça e anjo, voando e batendo no capim e escorrendo para os ribeiros, e elas todas cantando cantigas de aboio. Águas de toda cor, azul, verde, água branca, água araçá, água fusca, água alazão…”
Lá fora, amarrando seu cavalo, está Vitofurno, gordo do calcanhar ao pé do pescoço, mãos leves, as rédeas brandas nos seus volteios; chapéu de palha, sandálias, o 38 mais longo que o cano, escorre nas ancas largas. Vem dos campos, montado em animal de estimação, com chicote de bola, sela molhada e macia, de cabeçote alto, saltando no congozado do vento, com sangue de capelobo. Para. Ressurge da morte e aqui está para ouvir o elogio de outro guerreiro valente, contador de histórias, velho firme e duro, lutador de engenhos e veredas, chefe de bando dos patriotas do Nordeste, José Américo de Almeida.
A Marca Indelével do Recife
Esta é uma cadeira marcada pela política. Ela foi o fato capaz de, alcançando um tratamento transcendente, entrar nos domínios da arte, por intermédio da participação literária de seus ocupantes.
Nabuco dizia que a escolha dos patronos fez parte da biografia dos acadêmicos fundadores. “Não tendo Antiguidade,” — afirma — “escolhemos nossos antepassados. Escolhemos por motivo pessoal. A lista de nossas escolhas há de ser analisada como um curioso documento autobiográfico.”
Analisemos o patrono da cadeira: Tobias Barreto. A escolha seria do exclusivo fascínio de Graça Aranha. Parece que sim. E ele o teria feito pela extraordinária trajetória, literária e jurídica, do grande sergipano? Acho que não. Ele não confessa, mas todos os que estudaram a sua obra afirmam ser a preferência motivada pela indelével marca do Recife. É o delírio do menino de 13 anos, genial e arrebatado, que, guardado pelo pajem escravo, assiste à espetacular cena de rebeldia do mestre. Tobias Barreto, o gênio que ocupou grande espaço da história literária daquelas paragens, onde foi galáxia e ferro. O incrédulo Graça Aranha refugia-se nessas estrelas que ele próprio diz ser “o martírio obscuro que ia cessar”. Vem o concurso para a cátedra de professor substituto da Faculdade. Os estudantes tinham simpatias, Graça Aranha “se eletrizava e inflamava”. Era dos primeiros a chegar e “tomava posição junto à grade que separava a Congregação da multidão de alunos!”
Ele descreve como foi esse encontro memorável em que tudo era idealismo e paixão. Os jovens acreditavam que Tobias estava emancipando “a mentalidade brasileira afundada no teologismo e no direito natural”.
Tobias Barreto era o demolidor de mitos. Tudo sabia. E lutava pelo que sabia.
Graça Aranha vai assistir ao concurso. Tobias Barreto empolga o auditório. Destrói a concepção mecânica do universo. “Admite do monismo filosófico haeckeliano a parte do sentimento”. É o delírio. Graça Aranha não resiste, e afirma:
“…atirei-me aos braços de Tobias Barreto, que me recolheu comovido e generoso.
— Já é acadêmico? — perguntou-me admirado da minha idade.
— Sim, calouro.
— Pois bem, vá à minha casa esta noite.”
Desse dia jamais será liberto. Em Tobias encontra seu modelo. É igual ao do seu ancestral José Cândido, conhecido como O Farol, jornalista que, novo, morre nas causas da liberdade, defendendo o partido dos brasileiros. Nenhum panfletário teve tanto prestígio em minha terra. “Belas páginas de verdadeiro merecimento literário”, dirá Joaquim Serra. E Antônio Lopes, citando um dos seus biógrafos, afirma “que ele é um instante glorioso da imprensa brasileira, arauto das ideias liberais e voz sempre contra o arbítrio do poder”.
Em Tobias Graça Aranha vê, num relâmpago de sebastianismo, o tio-avô maranhense, O Farol. Era a mesma chama, a mesma rebeldia. Então, afirma para sempre o seu pacto de fidelidade: “nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto”.
É essa figura, a face revolucionária de Tobias, que ocupa a alma do grande maranhense.
Eleito para a Academia, tem de escolher seu patrono. Fiel àquela marca inapagável do Recife, busca o velho guerreiro como apanágio. Mas não é o Tobias professor, o poeta, o ensaísta, o filósofo, o enciclopédico. É o Tobias do Discurso em Mangas de Camisa no Clube Popular de Escada, o revolucionário e audaz que o faz pular as grades do auditório para queimar-se no fogo dessa paixão da mocidade.
O Tobias que dirá: “mais difícil do que falar aos que comem é falar aos que não têm o que comer.”
O Tobias que, também antecipadoramente, forte e profeticamente anunciava, há um século, esta verdade presente: “O mais alto grau imaginável da igualdade — o comunismo — é também o mais alto grau da servidão.”
A escolha, ao que me parece, foi a sedução política. Graça Aranha trair-se-á de maneira indireta quando afirma, ao escrever o seu ensaio às Cartas entre Machado de Assis e Nabuco: “Neste sentido de harmonia perfeita do real com o invisível, raros foram os estilistas deste País. Podem-se nomear três ou quatro verdadeiramente superiores pela ciência e arte da frase, do conhecimento profundo e exato das palavras ligadas intrinsecamente aos objetos. Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Machado de Assis, Raimundo Correia.” E pergunta: “Poderá Joaquim Nabuco ter este privilégio do estilo?” Onde está Tobias Barreto nesta relação?
Nada melhor para definir Graça Aranha do que a sua afirmação tanta vez repetida: “aos 12 anos neguei a Deus, aos 14 neguei o Direito Natural, aos 15 neguei o princípio monárquico e o direito à escravidão. Dos 16 em diante acrescentei às minhas negações a libertação estética.”
Não podemos falar em Graça Aranha sem abordar o episódio do seu rompimento com a Casa. Qual o mistério dessa separação? Depois que veio para o Rio, seu novo ídolo é Nabuco. A ele adere e acompanha em todas as causas. Morto Nabuco, Graça Aranha permanece sem modelo mas conserva o espírito de rebeldia. Na solidão da velhice, a alma do mestre volta-lhe à cabeça e deseja repeti-la. Será ele e não Tobias quem vai fazer um concurso. Era 16 de junho de 1924. O Jornal do Commercio, em nota lacônica, anuncia que Graça Aranha fará na Academia uma conferência sobre o espírito moderno e comunica “o encerramento no dia 29 das inscrições para a cadeira vaga com a morte de Vicente de Carvalho. A entrada é franca.”
A casa está plena. A plateia, ávida.
Nesta Tribuna a que o Destino também me trouxe, o velho Graça Aranha sobe e grita:
— Morra a Academia!
Os jovens aplaudem. O auditório ferve. Entre os que o carregam em triunfo está Alceu Amoroso Lima.
Coelho Neto sucede-lhe. Vem replicar. Nesta mesma Tribuna, faz o elogio da Grécia. No público, o grito de contestação:
— Morra a Grécia!
E Coelho Neto responde:
— Mas eu serei o último heleno.
Ambos, no ataque e na resistência, eram do Maranhão. Mas, ironia da história, o Graça Aranha que provoca de Coelho Neto a expressão “último heleno” ouvira a mesma confissão que seu ídolo fizera no Teatro Santa Isabel, em Recife, no duelo com Castro Alves:
Tobias, em honra de Adelaide do Amaral, recita:
— Sou grego. Gosto das flores.
Dos perfumes, dos rumores!
Castro Alves faz a réplica, na exaltação de Eugênia Câmara:
— Sou hebreu… não beijo as plantas.
Da mulher de Putifar.
A voz de Coelho Neto que gritou “último heleno” é a mesma de Tobias: “Sou grego.”
Graça Aranha envelhece sem perder o gérmen da rebeldia. É o ídolo dos moços. Poucos meses antes de morrer, em 1931, ainda escreve um Canto do Revolucionário e pede uma revolução integral, “não só política, mas sociológica”.
Os gestos de Graça são sempre políticos, e o episódio da Academia é um gesto de política literária.
A Águia Ferida
Morre Graça Aranha. A Academia elege Santos Dumont. Era uma escolha literária? Não! Era uma escolha política, pelo grande feito, mais que literário, o sonho da conquista do ar. Os Meus Balões e O que eu Vi e o que Nós Veremos são memórias de uma vida de desafios.
Nessa vida devo destacar um gesto que define o homem. Quando recebeu o Prêmio Deutsch — o giro pela Torre Eiffel —, ele o distribuiu entre sua equipe de mecânicos e os mendigos de Paris.
Sobre a nova descoberta faz uma autocrítica: “Aqueles que, como eu, foram os humildes pioneiros da conquista do ar pensavam mais em criar novos meios de expansão pacífica dos povos do que em Ihes fornecer armas de combate.”
Santos Dumont passa nesta cadeira como uma grande águia ferida antes de pousar. Eleito, morre antes de tomar posse.
José Américo, em um discurso de campanha em Ilhéus, afirmou: “Sobrevoei vossos céus, mas o voo do homem é uma deformação da natureza”. Essa deformação é, contudo, a fascinante aventura que nos transformou em pássaros.
O Biógrafo de Anchieta
Celso Vieira é eleito para o lugar do Pai da Aviação.
Talvez seja este o único em que a política não tenha sido o fenômeno deflagrador da atividade de escrever. Foi um grande prosador; erudito, de estilo claro e excelente pesquisador. Guardava a singularidade da profissão na mais completa ascetia. Teve grande destaque no mundo literário da época e chegou a ser presidente da Academia. Escreveu a biografia de Anchieta, sua obra máxima. Foi o pernambucano heroico que, saindo do nada, lutando contra tudo e todos, escreveu livros, fez histórias. Não passou porém em branco no terreno político e publicou Defesa Social, estudo de combate à violência pela polícia científica.
Outras Revoluções Virão
Na sucessão acadêmica, com sua morte, é eleito Maurício de Medeiros. Chega à Academia afirmando que “nenhum de vós, que tendes assento ao mais alto cenáculo da cultura brasileira, bateu-lhe às portas durante tanto tempo e com tanta constância”. É médico e professor. É o escritor que diariamente, na crônica dos jornais, faz literatura e política. Político, sobretudo, personalidade política, lutador político, discutindo problemas políticos e sociais. Combativo, como observou Clementino Fraga, era daqueles que chegavam à conclusão de Santayana: “todos os governos são bons… para os governantes”. Em 1935, passa o Natal preso a bordo do Pedro I. E ali define-se: “pus-me a meditar no meu estranho destino em que as prisões, os asilos, as fugas são os marcos com que se assinalam as fases da minha vida, conduzida incorrigivelmente por um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, uma mesma vontade: o amor à liberdade.”
É, finalmente, o escritor que brada num desespero final: “outras Revoluções virão.”
Mago do Sertão, Profeta das Ruas
Escritor e político é também José Américo de Almeida, a figura solar que tenho a honra de suceder. O núcleo de sua personalidade é o político, o idealismo do homem público com um grande amor à sua região.
Numa manhã ensolarada de João Pessoa estava o grande morto. A Paraíba e o Brasil inteiro o choravam. Fui o último orador e afirmei:
“Apaga-se a grande chama que iluminava este povo sofrido. Em breve o quente sol do Nordeste queimará as flores que depositamos em seu túmulo. Nesse instante, Paraíba, José Américo não estará mais aqui. Ele é espírito, é estátua, é história, e pairará sobre o Brasil. As flores de pedra, que não morrem, serão esculpidas pela eternidade, para perpetuar homens que, como ele, sendo de carne, transformaram-se em mármore.”
Escritor e político, mas um escritor que somente pôde ser escritor porque era político. Ele afirma que a política foi o destino; eu acredito que não, foi a vocação irrecusável. Um talento literário pode fugir à estrada das letras. Uma vocação política jamais pode eludir o seu destino. A política só tem uma porta, a da entrada. Afinal, destino e vocação estão ligados. Que incompatibilidade tem a política com a literatura? São dois rios, duas faces, dois mundos não antagônicos. Um, o mundo pragmático, da realidade, do cimento. Outro, do abstrato, da criação, da cor, dos sons, da palavra. Mas política “tem muito de realidade e de sonho”. E acrescento: de ficção.
Em política, a ação é em grande parte palavra — tanto a que se diz e a que se cala como a que se ouve e a que se guarda; a que se imagina ter sido silenciada como principalmente a que se cumpre.
Por sua vez, em literatura, a palavra é essencialmente ferramenta do comunicar, o instrumento integral da palavra — a palavra cumprida que diz todas as coisas geradoras das emoções e sensações do que se disse, do que foi ouvido, do que se guardou, do que se silenciou. Sono de silêncio que transmite vida.
Políticas e Letras
Defendendo a Academia contra o partidarismo político, Nabuco afirmava no discurso de instalação da Casa, como secretário:
“Nós não pretendemos matar no literato, no artista, o patriota, porque sem a pátria, sem a nação não há escritor e com ela há forçosamente o político. A política, isto é, o sentimento do perigo e da glória, da grandeza ou da queda do país, é uma fonte de inspiração de que se ressente em cada povo a literatura toda de uma época…”
Josué Montello, no seu estudo sobre Machado de Assis e a Academia, diz que há “essencialidade política nas Academias”. O mesmo pensamento era o do fundador da Cadeira 38: “Na Academia” — afirma — “o sentimento eleitoral é o mais ativo de todos e a ABL, graças ao seu quociente de mortos, jamais foi uma Academia morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais preciosa das vidas — a vida eleitoral.”
Os biógrafos de Machado de Assis ressaltam que aqui foi “o seu Senado Vitalício”. Acolheu os antigos políticos do Império e da República. “Os novos escritores e os remanescentes da monarquia.” “Realizou-se, politicamente, sem se afastar da obra literária.”
Magalhães Júnior, estudando o lado desconhecido de Machado de Assis, pôs em evidência o seu gosto pela política e no seu livro dá o testemunho da candidatura do notável escritor a deputado pelo 2o Distrito de Minas Gerais, em 1866.
Nada melhor para um país do que verificar que os homens públicos prezam os valores do espírito. É possível pensar em Nabuco, em Rui, em Graça Aranha, em Tobias Barreto, João Neves, Otávio Mangabeira, Afonso Pena Júnior e em Afonso Arinos, em Luís Viana, em Alceu Amoroso Lima, em José Américo, em Barbosa Lima, Afrânio Peixoto, Aníbal Freire e em Gilberto Amado sem pensar na política?
Churchill? De Gaulle? Mao?
E o que não dizer do mais político que escritor, que escreveu das mais belas páginas construídas pelo homem. Aquele lenhador, Lincoln, advogado de província que forjou com o próprio sangue a definição de democracia, no discurso de Gettysburg, da Casa Dividida, dos Espinhos não Cravados? E Jefferson, na precisão da Declaração da Independência? A expressão “busca da felicidade”, que inseriu, é a poesia da palavra — felicidade — que ganha transcendência para ser tudo não sendo quase nada. Felicidade, aí, é um mundo, é pão, é glória, é paz.
Um Mundo Real Imaginado
Toda a obra de José Américo é um discurso político. Ela tem sempre um interlocutor. Esse interlocutor, para ele, jamais seria o leitor despojado em busca de um livro. É um homem integral, consciente dentro do universo, senhor de direitos e deveres, que tem fome, tem sede, sofre, arde, dilacera-se. Não é literatura engajada, enlatada, induzida. Mas o testemunho espiritual de quem cria um mundo imaginário para modificar o mundo real que ele imaginou. José Américo confessa esse fato. “A Bagaceira é um grito de reforma agrária.” Ele o escreveu num desabafo, achando que apenas ocupava seu tempo, e surpreso exclama: “Eu não sabia que o livro era tão grande.”
A obra de José Américo de Almeida está toda analisada e dissecada em mínimos detalhes. Paraíba e Seus Problemas, A Bagaceira, Coiteiros, Boqueirão, Reflexões de Uma Cabra foram objeto de estudo dos grandes críticos brasileiros. Nada há a acrescentar. O autor assistiu em vida à glorificação de sua obra e à glória dos que a glorificaram.
Cabe-me pintar um quadro impressionista em pinceladas largas e vivas, sem detalhes nem requintes porque ele será sempre maior que o elogio. Nasceu José Américo em 1887, no Engenho Olho d’Água, em Areia, Paraíba. Ali estive. Vi a serra da Borborema. Os bolsões verdes dos vales onde a paisagem tem quatro olhos, dois para o Brejo, dois para o sertão.
A infância e essas terras marcaram-no definitivamente e deram-lhe um certo gosto de ficar só. Depois da morte do pai, vem a casa do tio, padre. O silêncio das rezas, o incenso que paira nos corredores dos curas do interior. Breviários ensebados, bíblias gastas, clássicos, sermões e o hábito das verdades eternas como fonte da vida. Casas onde as portas somente se abrem para as confissões, o viático, a esmola.
Depois o seminário, outra reclusão comum das orações em conjunto, das lições de latim, da atitude em guarda de todos, para evitar que a impureza afaste as vocações. O Diabo sempre ronda os seminários. Disciplina, silêncio e eterna imobilidade dos santos de altar.
A educação induzida do religioso logo se apaga. Escolhe outra estrada: o caminho do Direito. Vai habitar as repúblicas de estudantes, sem contudo conseguir afastar-se de sua sempre presente solidão. Já agora ela é um hábito. Dentro de seu espírito germina o mundo triste e dramático de “agouro, presságios, honras, paixões”. “Tudo se desfaz, menos os elos nativos que prendem o homem à terra”, ele dirá para sua Areia. Gilberto Freyre, para defini-lo, citará Mauriac: “Revive no meu íntimo a atmosfera de minha infância e juventude: eu sou meus personagens e seu mundo.”
Nessa fase de sua vida, a Faculdade de Direito do Recife ainda respira o romantismo do século XIX. É uma escola com sabor de teatro, e esse teatro tem um nome de Santa, Santa Isabel. Recife das rebeliões populares, do povo de arcabuz e jasmim, entre o sangue e a lágrima, entre a revolta e a paz. É Pedro Ivo, é Frei Caneca, são os heróis anônimos; é o Capibaribe, o Beberibe; é o vento, é a lembrança da ocupação, é o orgulho e o amor da resistência, a recifencidade, palavra sagrada, para untar os que ali passam com os santos-óleos da terra.
Essa faculdade passou por José Américo sem tocá-lo. Incólume, não será jamais arrastado pelo sentimento de Pernambuco. Tudo nele é a paixão da Paraíba. O Brejo de Areia. O engenho. O amor à sua terra.
Formado, depois de uma breve passagem em Sousa, como promotor, é nomeado procurador-geral do Estado. O cargo obriga-o à companhia de velhos desembargadores, de toga preta, passos lentos, autos manuseados, questões de terra, vistorias, habeas corpus, apelações, embargos e, em meio a tudo, os livros grandes de distribuição, os beleguins e a soturna justiça das sentenças com citações em latim e evocações mitológicas. É um isolamento que bem se ajusta ao seu gênio. Longe de tudo, acima, bem acima, só, solitariamente remoendo e moendo a denúncia que deveria explodir. É nesse período, na Rua das Trincheiras, que escreve o grande romance.
Em 1928 ele aparece. O gajeiro Alceu aponta: “Romancista ao Norte!” Só neste ano saem três edições de A Bagaceira.
O Testemunho dos Ocasos
Chega a celebridade. Tem grande legião de amigos e admiradores. Entre eles está João Pessoa, que lhe enseja a grande oportunidade preparada pela vida para cumprir um destino político. Ingressa na campanha e sai de sua solidão para a solidão das ruas. O desejo de mudança prepara a sociedade brasileira para a revolta. O fogo surge na tragédia que abala e comove o País: o martírio de João Pessoa, sangrado no ódio e na paixão que varrem o Nordeste. O Brasil crespa, surge 1930 e logo a vitória.
Agora Governo — e como é difícil a tarefa de governar —, enfrenta a prova da reconstrução. Ministro da Viação, vem a seca de 1932. Assistira à de 1897, no Brejo aguado, para onde acorriam os famintos. Agora, não é o olheiro: — tem o timão. Ei-lo um retirante do Rio, no caminho inverso dos infortúnios, a ganhar o sertão árido no ambiente de tragédia dos açudes secos. Sente na realidade o drama que já construíra no seu livro.
Profeta dos sertões, mago do Nordeste, voz do povo humilde, chamou-o Odylo Costa, filho.
José Américo não tem certeza dos rumos da Revolução de 1930. Começa a fazer uma revisão crítica da sua participação no Governo. Esse processo leva-o a, em 1934, deixar o ministério e recusar a embaixada no Vaticano. Eleito senador, renuncia ao mandato. Depois confessará que o fez não somente pelo apelo de ficar no Brasil, mas pelo desencanto dos rumos da situação nacional e paraibana.
Em 1935, triste e angustiado, refugia-se na literatura e publica dois livros — Boqueirão e Coiteiros — que não tocaram no diapasão da estreia.
Joaquim Nabuco diz que “a obra de quase todos os grandes escritores resume-se em algumas páginas; ser um grande escritor é ter uma nota distinta, e uma nota ouve-se logo; de fato ele não pode senão repeti-la”.
Em 1937 é o candidato que arrasta multidões. É o instante de transformar A Bagaceira naquela denúncia pública que lançou, de que “Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto: é não ter o que comer na terra de Canaã.”
E as frases célebres:
— “O mais tremendo grito de guerra é o grito da fome.”
— “A missão de governar é um apostolado de soluções humanas.”
— “Ninguém grita de boca cheia.”
— “Nem direita, nem esquerda. São formas de hemiplegia moral.”
É o mesmo José Américo que, analisando o fenômeno da inflação, afirma que ela é terrível “porque não tira do bolso, tira da boca”.
Em contraponto a esse tema, recolhi esta quadra de um cantador de Bacabal:
Eu vi a cara de fome
Na seca de vinte e um.
Ôi bicha de cara feia
Só mata a gente em jejum.
A campanha de 1937 morre na ponta de um golpe de Estado. Vem a escuridão. José Américo somente retorna à cena em 1945, bradando pela liberdade de imprensa.
O Caminho da Volta
Volta, então, à política diária, já que ela voltou.
Eleito senador em 1946, confessa que gosta da nova experiência, diferente da de 1934. Ernani Satyro testemunha a sua irritação com os apartes. Mas o Senado não tem a sedução dos palanques de campanha. Ele é orador da praça pública. A oratória parlamentar vive de lampejos, de emendas, de projetos, de pareceres e discursos que se constroem muito no ambiente, nos atos e fatos da hora.
Dessa época vangloria-se, apenas, de ter sido acusado de falar sempre literariamente. José Américo respondeu que somente sabia falar assim. Desse mesmo defeito foi acusado o visconde do Rio Branco, que se desculpou:
“— Aprendi com o marquês de Abrantes, que aconselhava: ‘Converse sempre em linguagem apurada, como se tivesse de falar em público.’”
Abrantes, o homem das elegâncias parlamentares.
José Américo, porém, não tem o gosto da tribuna senatorial. É o homem dos provérbios, das verdades que não devem ter apenas o pequeno espaço dos Anais ou dos Plenários.
Em 1950 volta à Paraíba, às suas primeiras ambições. Elege-se governador. Dessa época é sua famosa frase: “Voltar é uma forma de renascer. E ninguém se perde na volta.”
Em 1952, encanta-se de novo pela aventura nacional, aceita o convite de Vargas e retoma ao Ministério da Viação. Experiência amarga, volta perdida e trágica. Vem testemunhar mais um dos seus ocasos de sangue. É outro peito em chaga. Consumada a tragédia, como refúgio, vai cumprir o resto do mandato de governador. Tenta pacificar o Estado, mas os amigos o obrigam a uma nova candidatura em 1958. Ele não resiste. Cede.
Prova o gosto ácido da derrota em sua própria terra. Despede-se para sempre dessa paixão tentadora de disputar eleições. Reconcilia-se com os inimigos, prepara a morte, vivendo a velhice de glória, na solidão sem silêncio, de Tambaú. Sua casa é transformada num símbolo do País, capela de peregrinação. Venerado e beatificado, recolhe-se aos livros e chega à Academia. Confessa que não realizara o seu derradeiro sonho: ser membro do Conselho Federal de Cultura. Já não é aquele vulcão, aquele gigante gladiador. É um pai da pátria, tranquilo, sem desafetos, só admiradores, só cantares, só louvação. Assiste à sua obra ser analisada, redescobertos os mais escondidos tesouros de suas páginas. Saem edições e mais edições, as universidades estudam a sua linguagem, o seu estilo, suas hipérboles, suas reticências. É a consagração. A glória sedimentada na visão dela mesma. Nessa fase, testemunha seu filho Reinaldo Almeida: “Meu pai ficou mais compreensivo e mais tolerante.”
O Romance Nordestino
Diz-se que o romance nordestino, cuja temática social inaugurou um tempo novo, veio de 1930, e que A Bagaceira é um marco precursor. Ovsiánico Culicovsqui afirma que “não há possibilidade de compreender a literatura de uma determinada época sem conhecer previamente a vida social e pública do país e o modo de ser econômico-social que forma a base desta vida”. É verdade que nenhuma temática conseguiu ser mais presente como deflagradora do fenômeno literário do que a temática do drama nordestino no tratamento que lhe foi dado por José Américo, José Lins, Graciliano, Rachel, Jorge Amado. Os precursores perderam-se pelos caminhos do tempo, do esquecimento ou da injustiça, como Carlos Dias Fernandes, Domingos Olímpio, Franklin Távora, Juvenal Galeno, Gustavo Barroso, Rodolfo Teófilo, Farias Brito, Carlos Vasconcelos e outros. Dona Guidinha do Poço, só na década de 1950 descoberto, é um cenário do sertão com todos os ingredientes da paisagem que seria embrião para os romances modernos. A versão do gênero na poesia popular, através dos romanceiros de tradição portuguesa, antecedia de muito o tratamento que lhe foi dado na atualidade. O romance naturalista, como exemplo, perdeu-se no Brasil, porque surgiu quando ainda não havia povo nas cidades com sentimento para recebê-lo. Seu modelo era o romance burguês, forma europeia com séculos de vivência. O romance da terra, que nasce com Aluísio Azevedo em O Mulato, não pode ser visto somente no estereótipo de uma escola literária, pois ele é o veio que, em temas e paisagens diferentes, chegará a ter ponto alto na geração dos romancistas das secas. José Lins afirma que Gonçalves Dias e Alencar, inovando em ritmo e palavras, forma e espírito, conduziram o Brasil à libertação literária. “A presença do Nordeste está em ambos como condição essencial” é a sua conclusão.
Otto Maria Carpeaux assinala que dois fatores: “a raça e o ambiente — estão em oposição irredutível ao fluxo cronológico dos acontecimentos literários: são fatores constantes; produzem continuamente obras e fatos que a evolução histórica já ultrapassou ou ainda não deixa prever”. Daí os muitos precursores e “atrasados que transformam a história literária em verdadeira corrida de cavalos”. A Bagaceira nasceu de uma motivação política: o drama social. As mudanças que se processavam no mundo, chegando atrasadas àquelas bandas, determinaram uma literatura diferente que alcançava uma dimensão maior que o simples contemplar romântico do fenômeno físico das secas. Não bastava constatar nem sublimar o sofrimento, nem a tragédia dos retirantes, nem a morte e vida naquelas terras. Nem a pobreza das cidades, nem a ira santa dos fazedores de revolta. Era necessário descobrir o elo oculto das injustiças maiores para que a arte de escrever fosse, também, um protesto, uma inconformação social. Quem lê a história daquela região vê que em nenhum lugar a palavra revolução, revolta, reforma é tão presente. O desejo permanente de renovar, modernizar, foi uma constante. A própria história é a história de uma saga que não tem fim. Em José Américo toda a sua obra, a de político e de escritor, é uma denúncia. Ela começa por um fato político. Epitácio Pessoa pede que ele faça, juntamente com Celso Mariz, um relatório das obras realizadas na Paraíba. Era uma maneira de atrair o jovem intelectual. José Américo jogou-se de corpo e alma na tarefa. Este livro poderia ter a dimensão de um grande livro, na linha do de Euclides da Cunha ou de Gilberto Freyre, Os Sertões e Casa-Grande e Senzala. Na realidade, é um estudo em profundidade da sociologia do Nordeste, análise do homem, da terra e dos costumes, que perde a dimensão que devia ter quando se regionaliza para dedicar-se aos problemas locais. Mas é justamente aí que está a semente que vai frutificar em A Bagaceira.
Euclides da Cunha revela, no seu discurso de posse na ABL, que foi escritor por acaso. Do trabalho que deveria escrever saiu o grande e monumental livro.
É importante notar que o romance nordestino é grande porque é brasileiro em tema e tratamento. Não tem modelos. Na literatura americana os argumentos nasciam dos motivos criados pela nova terra; aqui a literatura do Centro-Sul era predominantemente voltada para o padrão da Europa. A região dos Estados Unidos que mais se aproxima do destino seguido pelo nosso Nordeste é o Sul. O livro de Darwin, Sobre a Origem das Espécies, teve muito maior repercussão, àquela época, no Mundo Novo do que na Europa. Nos Estados Unidos abalou o transcendentalismo, que era a base da filosofia que formara a nação americana. A era do romance pioneiro é a era da filosofia do pragmatismo. Pragmatismo que Papini disse ser tão difícil de conceituar que podia, na verdade, ser definido “como menos uma filosofia do que o método de passar sem ela”.
Vianna Moog estuda a falta de homogeneidade da cultura brasileira e delimita regiões culturais: uma é o Nordeste. Num estudo de literatura comparada, Cassiano Nunes nos adverte de que o modernismo americano buscava valores bem aproximados do modernismo brasileiro: a identidade nacional. No Nordeste, algumas conquistas do modernismo já estavam incorporadas à nossa literatura. O desamor ao gramaticismo, à linguagem popular, uma temática simples em que os personagens não tinham os conflitos existenciais das velhas sociedades. Tinham paixões. Na história literária do País, a rotina era outra. A escravidão e o sofrimento indígena, como exemplos, produziram obras românticas e os pretos e os índios dessas obras são como os das gravuras de Debret ou óleos de Vítor Meireles. A alma, a tragédia interna, aflora, informe, no grito condoreiro do Navio Negreiro, na linha dos discursos da Abolição, mas A Escrava Isaura não é a escrava Isaura. O grande verdadeiro romance da escravidão veio a ser escrito cem anos depois, por Josué Montello, com Os Tambores de São Luís.
José Américo é um precursor com a força dos precursores. Em A Bagaceira, ele mesmo proclama: “fiz um romance social”. É uma história em que o amor está misturado com a injustiça. Um grande crítico descobre no livro “sabor de romance russo”. Acho que essa definição se refere ao caráter daquilo que Vogué diz ser na literatura russa “paradas no niilismo e no pessimismo, podendo confundir-se Tolstoi com Flaubert”.
“Os José Américo com seus livros o fizeram confiar mais no Brasil que os aliás por ele admirados e, na verdade, admiráveis Andrades, Mário e Osvaldo de São Paulo.”
“A Bagaceira mais que As Três Marias. Os pensadores e artistas do Nordeste mais do que os supereconomistas do Rio e de São Paulo, com seus superprojetos de superdesenvolvimento.” São afirmações de Gilberto Freyre.
Será impossível completar a figura de José Américo sem falar no grande orador. A Bagaceira veio para a rua em seus discursos famosos. Provérbios, denúncias, protestos, poesia, revolta, exaltação, ternura e patriotismo.
João Neves da Fontoura, também orador, e dos maiores, afirmava nesta Casa que jamais os povos se comoveram ou lutaram por uma causa sem o estímulo e o apoio dos oradores.
A Bagaceira vai criar uma mentalidade nova, uma visão diferente das secas, um despertar de posições. Na literatura inicia-se um veio perene e forte. Na política, uma visão científica e social do Nordeste.
Podemos fechar este elogio ligando José Américo a Ferreira Viana.
José Américo, rijo ser, dura cepa, acusado de falar de si mesmo, responde:
— Falo porque posso.
— E por que não envelhece?
— Porque não quero!
Lembro-me de Ferreira Viana:
— O que disse está dito. A minha vida inteira não é senão um protesto.
Os livros, como as pessoas, envelhecem e morrem. Há casos de ressurreição, como ocorreu há pouco com o redescoberto O Guesa, de Sousândrade.
A Bagaceira tem 50 anos. As gerações novas não o podem ler com a paixão da nossa, mas ali descobrem o elo não perdido das histórias passadas, de um Brasil que desapareceu e ficou na desgraça do homem nordestino, dessa nação de andantes que têm coragem até para escrever romances de amor: edade e cio. Soledade e Lúcio.
Povo de Cinzas
Despeço-me da Paraíba que está em mim, não apenas nos romances, mas na carne. Meu avô saiu daquele chão, cidade do Ingá, Ingá do Bacamarte, nos anos de 1920. Trouxe mulher e filhos, o dia e a noite, os braços rijos do trabalho em busca dos vales úmidos do Maranhão. Largava as secas e a sujeição. Jogava-se na aventura eterna desse povo nômade.
Antes, casara-se em Pernambuco para que se cumprisse a alegria do meu destino de uma gloriosa mãe pernambucana. Nasceu na cidade de Correntes. Ali estive na curiosidade afetiva de saber dos meus antigos, e o que recolhi foi apenas a história de uma bisavó, a última de todos os que saíram e que levou os ossos do marido, num modesto cofre de zinco, para que o amor resistisse às mesmas cinzas, à tragédia e à pobreza.
Eu ouvi com ouvidos tênues de menino o relato do cantochão das caminhadas. A epopeia daquelas fugas em um tempo sem estradas. O tição de brasa, como uma borboleta de chamas sacudindo aqui e ali, em busca de vento, para alumiar as puídas estradas por onde passam os pés rachados, os jegues, os burros, as miragens.
Jamais deixei de ouvir um chocalho sem que o associasse ao grito de angústia que no pescoço dos animais anunciam aos que estão a chegada dos que trazem a marca do êxodo heroico irmanados na lágrima enxuta de todos os retirantes.
Aquele tinir de ferro bronzeado, trabalhado no fole, assoprado por peito suarento nas artes de ferreiro. A bigorna da safra dobrando e fechando. A aranha e o badalo. A hora do caminho de barro, a velha louça com o bronze derretido para fazer o som fino ou grosso.
São essas as vozes que no Maranhão se ouvem para anunciar a chegada dos sem-destino. É o primeiro canto. Depois, o descarregar dos alforjes, as trempes, a canastra surrada, trapos e santos velhos de estimação que afastam as visagens das andanças e protegem destinos.
É um movimento eterno. Quando se chega, não chega. Os capins estão sempre nascendo e morrendo.
O canto da cigana, o grito do rasga-mortalha acompanham as tropas onde os homens “são mais pobres do que as cabras”.
Quantos vi chegarem, quantos vi saírem. Minha metade viajante me faz estar sempre com uma ânsia de espaço. No Maranhão não temos a seca, mas temos o martírio dos que dela fugiram. Lá é a saga da sobrevivência.
É este o ambiente, a visão, o sonho, que tenho dessas passagens contadas e vividas na literatura do Nordeste.
São histórias da Paraíba que me chegaram desses ancestrais de quem não sei o nome e que lutaram contra Antônio Silvino e Cocada e cujos diálogos faziam parte da crônica familiar.
Meu avô rememorava o relato épico. O tiroteio, a morte saltando de bala em bala, a faca, o rifle, o assalto. E a voz do diabo:
— Morreu, Assuero?
A resposta heróica:
— Ainda não, desgraçado.
Foi desse avô que recebi a melhor definição de Academia.
Eu era bem jovem, publicara A Canção Inicial e, festejado na província, elegeram-me para a Cadeira de Humberto de Campos. Escrevi ao velho avô, que morava na roça, lavrando a terra de machado e foice num lugar que ele mesmo batizara de “Salvação”, dizendo do meu grande feito e da minha alegria. Com a notícia chegada, soltaram-se fogos de festa naquela casa de barro, e houve sorrisos e orgulhos. A vizinha, Dona Tudinha, sem saber o motivo, perguntou ao Velho a razão da folgança:
— Meu neto José entrou para Academia!
E ela, curiosa, perguntou:
— E o que é Academia, Seu Assuero?
Ele respondeu, em cima da pisada:
— Eu não sei. Eu sei que é coisa grande.
Coisa grande, aqui se guardam os valores espirituais, aqui se busca aquele “sentimento da alma” de que nos fala Bergson. Galbraith, economista e humanista, diz que o que deve valer é a qualidade de nossa vida e não a quantidade de bens. A sociedade industrial cria valores materiais. A cultura deve estar hoje na mesa do planejador, numa prioridade que possa fazer entender que o Brasil somente será uma potência econômica, política e militar quando for uma potência cultural.
O Brasil deve investir maciçamente no setor cultural. Precisamos criar o nosso renascimento.
O Canto da Despedida
A presença do Exmo Senhor Presidente da República João Figueiredo testemunha seu apreço à Academia como instituição cultural que simboliza valores eternos da Nação.
A Casa está cheia de amigos de todos os Estados e do meu querido Estado. Amigos, pedaços de nossas vidas.
Dizia o padre Massieu que o agradecimento é a memória do coração.
Ao nosso presidente Austregésilo de Athayde e a todos os acadêmicos — como expressar este sentimento? Com a palavra gratidão ou com a palavra coração? Deixo as duas. Sei que a eleição acadêmica não é um julgamento, é uma escolha e, como escolha, é um desejo de convivência. Esta, não abandonarei jamais.
Minhas homenagens a Pedro Calmon pela entrega da espada, a Luís Viana pela aposição do colar e a Josué Montello pela bondade da saudação de chegada.
Afrânio Peixoto dizia que um acadêmico são dois discursos. Um, que ele ouve no dia da posse; outro, que não ouvirá mais, na sua sucessão, já nos domínios da morte.
Agora, vou ouvir aquele que ouvirei, o único dos dois.
Antes de partir me chegam vozes e sons. Ouço as matracas do bumba-meu-boi, das madrugadas de minha terra. Elas anunciam o instante da despedida. A voz do cantador pede licença:
“Adeus, eu já vou embora.
É chegada a hora de me despedir.
Assim como o dia se despede da noite,
Eu me despeço de ti.”
São as últimas encantorias que ficarão na lembrança deste instante.
Esta é uma alegria que não murcha.