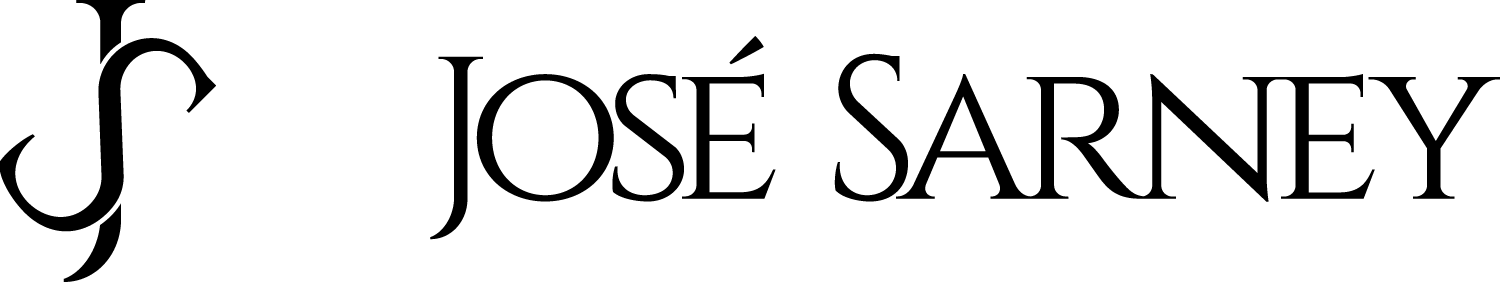Senado Federal, Brasília, DF, 18 de abril de 1991
É com uma grande emoção que retorno à tribuna do Parlamento. A paixão da política, do bem comum, é mais forte do que a paixão pela vida. Volto hoje para cumprir esta missão tão honrosa de falar em nome do Senado Federal para saudar os cem anos do Supremo Tribunal Federal.
A História do Supremo Tribunal Federal é a História da República. Elas se interligam e se integram nas grandezas e vicissitudes, nos dias de glória e nos instantes de sombra.
O Senado quis marcar perante a Nação o significado da passagem dos cem anos de instalação do Supremo Tribunal Federal para dizer que a Suprema Corte nunca faltou à Nação, nesta longa trajetória. E o faz num momento em que o País vive a plenitude da democracia, o governo das leis, das liberdades, das garantias individuais, do estado social de direito, em que as instituições se consolidam e as sombras e ameaças dos intervencionismos, dos golpes, das ditaduras, são passado, e banidas foram todas as formas, ostensivas ou disfarçadas, de autoritarismo.
Bem diferentes os tempos em que o Supremo Tribunal Federal completou seus 50 anos, em 1941. Tempos de obscurantismo em que fechados estavam o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras legislativas; os estados, sob intervenção; o Presidente do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo ditador; campeando o arbítrio, a censura, as prisões, os exílios, as perseguições, as torturas e, no dizer de Paulo Brossard, “transcorria o cinquentenário da República sem República e sem Federação”. Para coroar estas mazelas, funcionava o Tribunal de Segurança, mancha negra na História do País.
O panorama mundial não era diferente. Vivíamos o terror da Segunda Guerra.
Hoje, pode-se olhar para trás e verificar um mundo transformado. O declínio das ideologias, o fim das confrontações, a busca da paz, da solidariedade internacional, e cada vez mais os homens pensando na utopia do domínio da Justiça absoluta.
Com esta nova realidade aqui estamos reunidos. Há cem anos, o Supremo Tribunal de Justiça do Império era transformado na instituição republicana do Supremo Tribunal Federal. Não mudava somente o nome, mudava também o tribunal: o velho tribunal instituído por D. João VI, pelo Alvará de 10 de maio de 1808, para suprir a impossibilidade, criada pela vinda da família real, de julgar as causas do Brasil pela Casa de Suplicação de Lisboa. Havia o mar e Junot entre o Brasil e Portugal.
Era o velho Supremo monárquico uma corte sem dimensão política, que servia a um Estado unitário, sob a invocação do Imperador; o novo tribunal, uma instituição republicana, federativa, e a ela estava confiada a guarda da Constituição.
Nada melhor para compará-los que as mensagens que lhes justificavam a criação. O Rei D. João VI argumentava a necessidade de proteger os “sagrados direitos de propriedade que muito desejo manter como a mais segura base da sociedade civil”.
Na República a exposição de motivos que acompanhou o Decreto no 848, de 11 de outubro de 1890, assinada pelo Ministro Campos Salles, tem uma visão liberal. Vale recordar:
“… o que principalmente deve caracterizar a necessidade da imediata organização da Justiça Federal é o papel de alta preponderância que ela se destina a representar, como órgão de um poder, no corpo social.
Não se trata de tribunais ordinários de justiça, com uma jurisdição pura e simplesmente restrita à aplicação das leis nas múltiplas relações do direito privado.
A função do liberalismo no passado… foi opor um limite no poder violento dos reis: o dever do liberalismo na época atual é opor um limite ao poder ilimitado dos parlamentos.
Essa missão histórica incumbe, sem dúvida, ao poder judiciário, tal como o arquitetam poucos povos contemporâneos e se acha consagrado no presente decreto.”
E concluía:
“O ponto de partida para um sólido regime de liberdade está na garantia dos direitos individuais.”
O Supremo republicano tem uma estreita vinculação com o Senado. Começa com o decreto 848 do governo provisório, que afirma no art. 5o:
“O Supremo Tribunal Federal terá a sua sede na capital da República e compor-se-á de quinze juízes, que poderão ser tirados dentre os juízes seccionais ou dentre os cidadãos de notável saber e reputação que possuam as condições de elegibilidade para o Senado.”
Os novos ministros deviam ter as condições de elegibilidade para o Senado. Por que o legislador não explicitou os requisitos? A idade, a nacionalidade, o gozo dos direitos políticos ao invés da referência ao Senado?
É evidente que existia a imagem da estreita vinculação do Senado americano à Suprema Corte, paradigma do novo modelo. Mas também existia outra.
Tenho uma observação sobre essa vinculação. Embora extinto, a imagem do Senado era a imagem do grande órgão do Império, de suas grandes virtudes, de suas grandes figuras. Como a República chegou sem evangelização, ela estava nos fatos mas não estava nas mentes. O desejo de um Supremo à moda americana era completado com uma composição à moda da Monarquia brasileira. Sabe-se que D. Pedro II tinha duas obsessões quanto a escolhas: catedrático do Colégio Pedro II e Senador do Império, embora, quanto a este, fosse acusado muitas vezes da preferência pela “cunha”, aquele nome que não era o do favorito. Incidentes foram criados por esse zelo do Imperador, alguns deles importando mesmo em queda de gabinetes, como o foi o de Zacarias, com a subida de Itaboraí, quando o Monarca não cedeu na preferência por Inhomirim.
O texto constitucional vinculou a imagem do Ministro do Supremo à do Senador Vitalício e austero do Império desabado.
Nabuco, na sua monumental obra Um Estadista do Império, magistral no desenho de perfis, diz que o Senado era o “mais ambicionado e o mais conservador dos centros do poder”. Ali chegavam os sobreviventes, porque a idade limite era de 40 anos e o critério censitário exigia o “rendimento anual por bens, indústria, comércio ou empregos a soma de oitocentos mil réis”.
Afirma ainda Nabuco, retratando aqueles tempos:
“Na vida do homem público, a escolha senatorial era outrora o fato principal; era a independência, a autoridade, a posição permanente, a entrada para a pequena aristocracia dominante.”
Machado de Assis, o incomparável cronista do O Velho Senado, também nos oferece este testemunho:
“A vitaliciedade dava àquela Casa (o Senado) uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros.”
Há um episódio que bem retrata o cuidado do Imperador na escolha dos senadores. Bem elucidativa dessa conduta, é, sem dúvida, a história que se conta a respeito do Conselheiro Pedro Luiz Pereira de Souza.
Numa festa do Paço, ele dançava com a Viscondessa de Cavalcanti. Era considerado moço, e destacava-se o Conselheiro numa carreira brilhante pelos cargos que já ocupara como Ministro de Estrangeiros, Presidente da Província, Deputado, e também um escritor consagrado. Vendo-o dançar, aproxima-se um amigo do Imperador e segreda-lhe, ao ouvido, numa insinuação direta:
“— O Pedro Luís está maduro para o Senado.”
Ao que o Velho Imperador retruca:
“— Mas, ele ainda baila…”
Os Senadores e os Ministros do Supremo não podiam bailar…
E o poeta da Sombra de Tiradentes não pisou no Senado, porque logo a morte o colherá aos 45 anos de idade.
Por outro lado, o Senado tinha a aura da magistratura. O Conselheiro Nabuco de Araújo já preconizara que “o Senado não faz política”, e Rui Barbosa, poucos meses antes da República, em 2 de maio de 1889, no Diário de Notícias, ilumina o conceito de Nabuco, a respeito de o Senado não fazer política:
“O Senado não faz política; isto é: está na alçada ordinária do Senado, como está na da Câmara dos Deputados, mudar, por operação instantânea do seu voto, a direção geral da política do Estado, exautorando os gabinetes, a um aceno contrário da sua opinião.”
Esta concepção de um Senado isento, severo protetor da grande Nação, misto de Tribunal e guardião das altas virtudes políticas, estava sem dúvida na mente de Rui e Campos Salles, quando imaginaram o Supremo Tribunal Federal e o vincularam à elegibilidade para o Senado.
O Senado Republicano não se sabia como seria. A visão do que era e seria o Senado era a visão do Senado do Império. A vinculação entre o Senado e o Supremo tinha assim outras raízes.
Entre algumas notas encontradas nos papéis do Marechal Deodoro, fundador da República, há uma sobre a reunião feita para discutir a nova Constituição. Propuseram os autores do anteprojeto a nomeação dos Ministros pelo Senado e redigiram uma proposta para o que seria o art. 64:
“O Supremo Tribunal Federal se compõe de 15 membros, nomeados pelo Senado da União dentre os juízes federais mais antigos e jurisconsultos de provada ilustração.”
O velho Deodoro faz sua ressalva e deixa rascunhado:
“Nomeados pelo Governo, segundo a antiguidade e somente entre juízes federais.”
E acrescentou — certamente com uma certa restrição a advogados: “O Juiz professa a Justiça, e o que professa o advogado?”
É desse tempo a carta que o Marechal Deodoro dirigiu a Rui, cinco meses depois da Proclamação da República, já sofrendo as dores da Presidência, doença do cargo, também encontrada em seus papéis:
“Ilmo Amigo Sr. Dr. Rui Barbosa — 6 de maio de 90. Praticamente, para mim é-me impossível o alto cargo de que fui investido — o de chefe do Governo Provisório — porquanto nem tenho a paciência de Jó, nem desejo os martírios de Jesus Cristo: se por sermos filhos do pecado, temos de pagar neste mundo os erros de origem, contudo nos ficou a faculdade de evitar sofrimentos; e assim não tendo eu a louca pretensão de querer me aproximar de Jó nem Jesus Cristo, me julgo sem forças para continuar em tal cargo. A V. Exa portanto, que é o Primeiro Vice-Chefe do Governo, entrego os poderes que me foram conferidos e retiro-me para o meu quartel, onde me achará quando, em matéria de profissão, se precisar do velho soldado.
Com estima e consideração, sou de V. Exa amigo agradecido — Deodoro.”
Rui respondeu com a célebre frase: “Eu posso sair, o Senhor não.”
Quantas vezes, na Presidência, pensei nesta frase, quando recebia pedidos de demissão de ministros de Estado, invertendo-a: “O Senhor pode sair, eu não.”
A estreita correlação e vinculação do Senado ao Supremo não vem somente de suas origens. A Constituição dá ao Senado o poder de julgar os Ministros do Supremo, e ao Supremo o de julgar os Senadores. O Supremo tem competência para conceder segurança e injunção contra atos ou omissões do Presidente ou da Mesa do Senado. O Senado aprova as indicações para Ministro do Supremo e completa a função política e constitucional do Supremo, na competência de “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.”
Esta competência faz do Senado participante da obra judicial.
“Seria supérflua a disposição que convertesse o Senado em porteiro dos auditórios para solenizar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Era mais simples, nesse caso, declarar que ficariam sem nenhum efeito as leis julgadas inconstitucionais pelo STF” — são palavras de Aliomar Baleeiro, ao examinar a matéria e autonomia do Senado em estabelecer, erga omnes, a aplicação da lei.
O Senado jamais teve períodos de tensão com o STF e nunca faltou à instituição. Floriano, no conhecido episódio da nulidade do Código Penal da Marinha decretada pelo Supremo, nomeou Ministros do Tribunal o médico Barata Ribeiro e os Generais Inocêncio Galvão de Queiroz e Raimundo Everton Quadros, baseado na interpretação de que o preceito constitucional “reputação e notável saber” não se referia apenas ao saber jurídico. O Senado não aprovou as nomeações.
Do Senado americano não se pode dizer a mesma coisa. Algumas vezes foram ameaçados ou instaurados processos de impeachment contra membros da Corte Suprema. Recordemos, como o último e mais rumoroso incidente, o que Roosevelt patrocinou contra a Suprema Corte ao ameaçar nomear um juiz para cada membro que tivesse mais de 70 anos, a fim de assegurar a continuidade das ações do New Deal, bloqueadas pela Corte conservadora e envelhecida.
O clima de tensão entre o Legislativo e a Corte, que ali se estabeleceu, sempre pode ser resumida numa afirmação do juiz Harlan:
“…se nós não gostamos dum ato do Congresso, não temos muita dificuldade em achar fundamentos para declará-lo inconstitucional…”
Nos Estados Unidos também os Presidentes mantiveram violentas pugnas com a Corte Suprema. Grandes Presidentes, como Lincoln, Roosevelt, Jefferson, não fugiram à regra.
Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal teve sempre ao seu lado, por parte do Senado, um clima de confiança e admiração pela sua tarefa. Há um ilimitado respeito pela suprema dignidade de sua magistratura.
Basta notar que na História deste País o Poder Legislativo, por atos de força, foi fechado algumas vezes e teve suspensas as suas funções algumas vezes; tivemos revoluções, tivemos violência de toda natureza ao longo da História da República, mas ninguém teve coragem de fechar o Supremo Tribunal Federal.
Mas o STF teve de conviver com um País em constante turbulência. Poucos meses depois de sua instalação, o vendaval batia as suas portas. O Congresso era dissolvido. Vem o levante da Armada, tendo à frente o Almirante Custódio José de Melo. Deodoro renuncia. Floriano assume e corta a cabeça dos governadores. Estado de sítio, deportações, quebra das liberdades e das garantias individuais. A violência impera. O Supremo Tribunal é chamado a desempenhar sua função política constitucional. A História republicana se move e se contorce, iniciando um doloroso calvário.
Rui, que sonhara o Supremo como a Corte Suprema dos Estados Unidos, defensora das leis, responsável pelo primado do Direito, chama-o a seu dever. Deseja combater a força das armas, o poder do arbítrio, pela força da lei.
Impetra habeas corpus para 46 pacientes, generais, almirantes, jornalistas e até o poeta Olavo Bilac.
Não adiantaram as exortações de Rui ou as considerações de Campos Salles, no decreto de instalação do órgão sobre a função excelsa do Supremo, criado para revelar o espírito da Constituição e conter o arbítrio.
Recordemos o idealismo de Rui e sua visão do STF. Vamos reconstituir o cenário. Depois da República, o abolicionista, o jurisconsulto, o homem de estado, construtor das instituições, volta a ser o advogado e, pela primeira vez, assoma à tribuna do STF. Vê o Tribunal formado, e ali materializado o seu sonho. Para ele é um Tribunal sagrado. Tem todas as energias. Empunha a espada da Justiça. Em sua mente, ali não estão homens, ali não está o Tribunal, mas a Corte que tem a força gigantesca da lei, do controle constitucional, pairando acima de tudo. Rui sente-se menor. Sua vaidade, sua segurança, sua cultura desaparecem e suas palavras parecem uma prece, têm o cheiro dos incensos nas liturgias. O silêncio daquela sala simples ouve a voz do grande mestre:
“Minha impressão — diz Rui — neste momento, é quase superior às minhas forças, é a maior com que jamais me aproximei da tribuna, a mais profunda com que a grandeza de um dever público já me penetrou a consciência, assustada da fraqueza do seu órgão. Comoções não têm faltado à minha carreira acidentada, nem mesmo as que se ligam ao risco das tempestades revolucionárias. Mas nunca o sentimento da minha insuficiência pessoal ante as responsabilidades de uma ocasião extraordinária, nunca o meu instinto da pátria, sob a apreensão das contingências do seu futuro, momentaneamente associado aqui às ansiedades de uma grande expectativa, me afogaram o espírito em impressões transbordantes, como as que enchem a atmosfera deste recinto, povoado de temores sagrados e esperanças sublimes.”
E acrescenta:
“Nós, os fundadores da Constituição, não queríamos que a liberdade individual pudesse ser diminuída pela força, nem mesmo da Lei. E por isso fizemos deste Tribunal o sacrário da Constituição, demos-lhe a guarda de sua hermenêutica, pusemo-lo como um veto permanente aos sofismas da razão do estado, resumindo-lhe a função específica nesta ideia.”
Sofreu o que muitas vezes sofrem todos os advogados.
O habeas corpus é negado. Mas a derrota não o faz descrer do Tribunal nem arrefecer sua confiança na Justiça, e, num gesto que ficou na História do Tribunal, beijou a mão de Piza e Almeida, o único voto divergente.
Está isto marcado e repetido, indelevelmente, na História do Supremo Tribunal Federal.
Aqui, como nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal viveu épocas de grande tensão com o Poder Executivo.
Floriano, a exemplo de Andrew Jackson contra Marshall, teria afirmado em face da concessão de inúmeros habeas corpus pelo Supremo:
“Eles concedem a ordem, mas depois procuram saber quem dará habeas corpus aos Ministros do Supremo.”
Não respeitou decisões e escreveu:
“Considero em pleno vigor as limitações feitas pelo art. 47, do Decreto no 848 ao direito de concessão de habeas corpus e não posso deixar de manter em vigor o Código Penal da Armada.”
Prudente de Morais, o primeiro Presidente civil, em mensagem ao Congresso, externou sua insatisfação com a conduta do Supremo:
“Não dissimulo — afirmou — que foi grande minha decepção vendo a ação do Poder Judiciário… [que] abalou a harmonia entre os poderes…”
Com Campos Salles e Rodrigues Alves não se verificaram atritos visíveis. Foi um tempo em que a Corte mudou a sua composição. Os velhos juízes do Império cederam lugar aos que absorviam o novo espírito da Casa e sua posição em face do regime.
Hermes da Fonseca desacatava o tribunal constantemente, não cumpria decisões e reivindicava em pé de igualdade competência como executor da lei e de intérprete da Constituição.
Com Wenceslau Braz melhora o convívio. Carlos Maximiliano, Ministro da Justiça, procurou estabelecer relações corretas com o Judiciário. Foi um tempo de tranquilidade que durou pouco. Epitácio Pessoa, que tinha sido Ministro do Supremo, também não fugiu à regra de rusgas com a sua antiga casa, e Arthur Bernardes passou para a história dos incidentes com o Judiciário ao não cumprir a ordem de habeas corpus concedido a Raul Fernandes, então Presidente do Rio de Janeiro.
Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, diminuiu o número de juízes e aposentou aqueles que tinham tomado parte nas decisões de 22 e 24 nos habeas corpus da Coluna Prestes, entre eles Pires e Albuquerque, um dos maiores juízes que passaram pela Corte.
Vargas perpetrou um dos mais terríveis atos contra a instituição da Justiça. Anulou, por decreto, uma sentença do STF e avocou a si a nomeação do Presidente do Supremo, prática anulada quando o Ministro José Linhares assumiu a Presidência da República depois dos episódios de 29 de outubro de 1945.
Juscelino Kubitschek não teve atritos com o tribunal, mas teve a sua investidura conturbada pelos pronunciamentos militares, quando surgiu a doutrina Nelson Hungria, de duvidosa aceitação, que negou os habeas corpus pedidos pelo deposto Presidente Café Filho, ao considerar que a Corte desarmada não enfrenta o ruído das baionetas.
A Revolução de 64 limitou a competência do Supremo. Este que, ao longo de sua história, vivera confrontos com o Executivo, viu restringida a sua ação e colocados fora da proteção da Justiça os atos emanados da força e os atentados aos direitos individuais. Dessas terríveis restrições nasce a relativa calmaria nos vinte anos da Revolução de 64. Mas nem assim podemos dizer que o Supremo não resistiu e falhou a sua missão. Ao contrário. O Presidente Castello Branco, que tinha uma dimensão dos valores institucionais e que desejava uma revolução limitada, que imediatamente voltasse ao leito da normalidade, teve de enfrentar pressões e tensões, e salvou o Supremo das cassações. Mas teve de aumentar o número dos seus juízes e o fez por motivos revolucionários, embora na crença de que principalmente atendia aos reclamos da Justiça, morosa e tardia, em face do volume de processos que chegava à Suprema Corte.
Já o Presidente Costa e Silva, no AI-5, alterou a composição do tribunal e aposentou juízes, como Vitor Nunes Leal, um dos brilhantes ministros que ali tiveram assento e construtor da Súmula que alguns veem concebida no Decreto no 2. 684, de 23 de outubro de 1875.
Mas foi nesse período que o Supremo teve um dos seus momentos mais altos. Um dos seus grandes juízes, Aliomar Baleeiro, que foi meu colega no Congresso e companheiro de liderança, de quem tenho o orgulho de dizer que fui amigo, revelou-se no Supremo um grande magistrado. Sua cultura e lucidez estiveram a serviço da Justiça.
Refiro-me ao julgamento da constitucionalidade do Decreto-Lei no 322. Numa época de temores e de evasivas, em que em nome da Segurança Nacional se abusava e pisava, Baleeiro conduziu o Supremo a declarar a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 322, construindo a doutrina de que os poderes de editá-los, “de urgência”, “interesse público relevante”, “segurança nacional” não estavam imunes à consideração do tribunal. A matéria tratada não exigia a urgência constitucional da medida invocada pelo Executivo, e fulminou:
O conceito de segurança nacional não é indefinido e vago, nem aberto àquele discricionarismo do Presidente ou do Congresso. Segurança nacional envolve toda a matéria pertinente a defesa da integridade do território, independência, sobrevivência e paz do país, suas instituições e valores materiais ou morais contra ameaças externas e internas, sejam elas atuais e imediatas ou ainda em estado potencial próximo ou remoto.
Repugna a Constituição que, nesse conceito de segurança nacional, seja incluído assunto miúdo de Direito Privado, que apenas goza com interesses miúdos e privados de particulares…
Esta exemplar decisão marca a continuidade da conduta do Supremo nesta etapa da vida pública nacional, dentro de sua melhor tradição.
Fui Presidente da República, mas falo em nome do Senado. Presidi o País num momento de transição, em que as pressões contidas explodiam. Filho de magistrado, em nossa Casa nunca houve estante vazia nem ouvidos fechados para as injustiças. Menino, peregrinei de município em município no interior mais pobre do Brasil, vendo meu pai, a extraordinária figura de meu pai, cujo nome é consagrado no Fórum do Maranhão, com aqueles livros sofridos e velhos, amassados pelas viagens e pelo tempo, repositório dos princípios sagrados do Direito. Quantas noites o revejo, nas noites escuras do sertão à luz das lamparinas, a redigir sentenças e despachos.
Na Presidência da República entronizei a Constituição em minha mesa de trabalho e na sala inteira. Inerente aos meus atos e presentes nos meus deveres estava o espírito da Justiça, na lembrança do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, a me alertar sobre os caminhos da ilegalidade, quer por desconhecimento, quer pelo poder. Para fugir do primeiro recorria aos mestres e, do segundo, a uma vida inteira, erigindo estátuas à Justiça, na tradição de uma família de bacharéis, que abominava a força e sempre acreditou na prudência, na paciência, no diálogo, nas virtudes maiores dos valores do espírito e do Direito.
Coube-me presidir o Brasil, num momento da volta ao Estado de direito — a plenitude das liberdades públicas, sem quaisquer restrições. E a transição é a mais difícil de todas as crises políticas a serem administradas. É obra complexa, exige sabedoria, experiência, compreensão. Exige postura de renúncia e de humildade. Alto é o seu preço político. Ela tem sido o túmulo de grandes estadistas. Transforma heróis em vilões, santos em demônios e, as, vezes, democratas em ditadores. Tivemos cinco eleições, a Constituinte mais polêmica deste País. Nenhum recurso, nenhuma acusação contra abuso de poder, nenhuma ameaça, nenhum receio, nenhuma sombra sobre a liberdade.
Em longa vida política nomeei, como governador e presidente, mais de uma centena de juízes. Provi os cargos dos novos tribunais criados pela Constituição. Nunca estabeleci qualquer relação entre a escolha e a função judicante, nem procurei opinar no julgamento da elaboração das listas de mérito. Em nenhum momento interferi direta ou indiretamente na administração da Justiça. Para marcarmos a normalidade constitucional, a simplicidade do sistema democrático, o então Presidente do Supremo, Ministro Moreira Alves, foi chamado a exercer a Suprema Magistratura do nosso País, na ausência do titular e de seu substituto, na confiança absoluta de nossas altas responsabilidades.
O Supremo é também a história dos seus Ministros. Eles fazem a História da Casa. Eles participam da História da República.
A nomeação dos Ministros do Supremo sempre recebeu do Poder Executivo e do Senado um tratamento de grande relevância. Os escolhidos não vêm ao Supremo para fazer carreira, mas trazem ao Supremo prestígio de seu saber e consagração. A Constituição entregou ao Senado a competência de zelar por este princípio.
Rui Barbosa, o vigilante defensor do Judiciário, não deixou de advertir os Presidentes para este ângulo. Em carta a Afonso Pena, alertava: “Costumo dizer que, se há inferno, ali deve estar reservado lugar de honra aos Presidentes que, cedendo a tais móveis (visão política), elegem magistrados ruins.” O próprio Supremo não tem ficado ausente desse aspecto, zelando pelo prestígio da Casa, embora de modo velado ou contido.
O Ministro Luís Gallotti contou a esse respeito que, para a vaga do Ministro Aníbal Freire, o Presidente Dutra ia escolher um nome que não estava a altura do Supremo. O Presidente de então, Laudo de Camargo, pediu a Gallotti que fosse intérprete perante o Presidente da República da opinião do Supremo.
No Catete, o Presidente ouviu as ponderações do tribunal. Disse Gallotti em sua argumentação:
“— Presidente, ao escolher este nome o senhor corre também o risco de vê-lo não aprovado pelo Senado.”
O Presidente respondeu:
“— Esse risco eu não me importaria de correr, mas indicar para o Supremo Tribunal alguém que o tribunal não julga digno da investidura, isso não farei.”
É o mesmo Ministro Luís Gallotti quem relata outro fato.
Para a escolha daquele que foi um dos seus maiores juízes — Pires e Albuquerque — moveu-se o Supremo. Pedro Lessa — o maior dos nossos juízes na opinião de muitos — foi a ele dizer do desejo do tribunal de que, para a vaga existente, fosse ele o escolhido.
“— Pires de Albuquerque respondeu: Em suma, Dr. Lessa, o que o Senhor me pergunta é o seguinte: Que preferiria eu? A nomeação para Ministro da nossa mais alta Corte de Justiça ou a honra, sem precedentes, de ser indicado para o cargo pelo Supremo Tribunal, mesmo não sendo nomeado. Eu prefiro esta honra.”
Nos Estados Unidos a história da Corte é marcada pelos grandes nomes de Marshal, Holmes, Warren. Aqui, de Piza e Almeida, Pedro Lessa, Pires e Albuquerque, Barradas, Gallotti, Baleeiro, Victor Nunes Leal, para falar dos mortos.
No Brasil o art. 102 da Constituição entregou ao Supremo Tribunal Federal a maior de todas as responsabilidades do País:
“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição.”
A guarda da Constituição!
Dessa competência já tinha Rui uma ampla visão, que expressou no discurso de posse na Presidência do Instituto dos Advogados, em 1914:
“Sendo essa instituição peculiar ao tipo federativo de origem americana, o Supremo Tribunal Federal está de vela, na cúpula do estado, a todo o edifício constitucional, sendo […], essa instituição equilibradora, por exigência do regime, a que mantém a ordem jurídica nas relações entre a União e seus membros, entre os direitos individuais e os direitos do poder, entre os poderes constitucionais uns com os outros, sendo esse papel incomparável dessa instituição — a sua influência estabilizadora e reguladora influi de um modo nem sempre visível, mas constante, profundo, universal, na vida inteira do sistema. Nem ela, sem ele, nem ele, sem ela, poderia subsistir.”
Avulta, desse modo, o papel do Supremo Tribunal na vida do país, ainda agora posto em relevo com elevado número de ações diretas de inconstitucionalidade de dispositivos de Constituições estaduais, desbordantes dos princípios consagrados na Constituição Federal. O Tribunal é, assim, guarda incorruptível da vida da Federação, velando pelos princípios que a inspiram na Carta da República.
Aqui as declarações de inconstitucionalidade foram maiores que nos Estados Unidos.
Mas não só em julgar arguições de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal supera a Suprema Corte americana. Revela acentuar, para efeito de comparação, que o procedimento da Suprema Corte nos Estados Unidos é bem diferente do adotado no tribunal brasileiro, em relação aos processos que sobem ao seu exame e julgamento. Naquela Corte, há três formas de procedimento: pode o juiz simplesmente recusar a apreciação do caso, por considerá-lo irrelevante, devolvendo por simples despacho. Essa forma alcança, anualmente, noventa por cento das causas submetidas a Corte. Na segunda hipótese, a Corte aceita o caso para ser julgado e o submete a “procedimento completo”, o que inclui sustentação oral e decisão sobre o mérito. Poucos são os processos que logram esse tratamento. Na última forma, a Corte aceita o caso para examiná-lo sem argumentação oral e o decide em breve sentença, não fundamentada, que é conhecida no fórum como per curiam. Essa seleção de processos resulta em sensível redução do volume de serviços na Corte Suprema.
Já no Suprem o Tribunal brasileiro, os processos vão necessariamente ao exame do relator, que os põe na maior parte das vezes em pauta, para o julgamento pela turma ou pelo plenário, conforme a natureza da causa. O recurso pode ser conhecido e provido ou apenas não conhecido, mas sempre pelo voto dos juízes. Raros são os casos em que os processos deixam de ser liminarmente conhecidos. É de acentuar que, com maior número de legitimados para ação direta de inconstitucionalidade da lei, avultou-se o número de processos dessa natureza que vão a plenário, não raro por duas vezes: para decidir sobre a medida cautelar e para o julgamento final.
Como se vê, a judicatura do Supremo Tribunal, que os Srs. Ministros conhecem tanto, mas que aqui desejo ressaltar para conhecimento desta Casa, no instante desta homenagem, é um labor constante. Ali se levanta um poder independente e silencioso, atento aos deveres como baluartes das liberdades e garantias constitucionais.
É a esse Tribunal que esta Casa presta esta homenagem, reverenciando a sua integridade e sua fidelidade aos anseios de nossa Nação, conduzindo-se como maître savant da vida republicana.
Mas, como tudo na vida, o Supremo não recebeu só flores. João Mangabeira disse que, das instituições republicanas, a que mais falhou à República foi o Supremo. Falava por ele o ressentimento dos meses de prisão, vítima da violência política e da injustiça. Infelizmente ele não pôde ver a floresta; viu apenas a árvore.
Ele não viu o Supremo criativo que abriu, a golpes de audácia, a teoria do habeas corpus, buscando a concepção maior da violência, ao admitir que o direito de locomoção era o fim de uma infindável trilha de violações de direito que podiam ficar ao largo da proteção da justiça; não viu o Supremo que não se curvou a governantes autoritários, que não defendeu interesses de castas, que se modernizou, que aprovou as intervenções do Estado na ordem econômica em busca de harmonizar os conflitos sociais e os mais desvalidos; não viu o Supremo respeitado, íntegro, austero, digno, onde a Nação vai agasalhar-se nas suas horas de tempestade.
O Senado, ao aprovar os juízes, investe-os no reconhecimento constitucional do saber e da reputação ilibada. A responsabilidade do Senado é julgar os juízes que irão julgá-lo. O Supremo não faltou à República, e o Senado não faltou ao Supremo ao dar-lhe grandes juízes. Se o Presidente escolhe, é o Senado quem lhes aprova as condições e que os investe na dignidade suprema do cargo. E a soma de todos os juízes é menor do que a instituição do Supremo.
Vive o Supremo neste seu centenário um instante de glória em sua história. No esplendor do seu prestígio, de seu respeito, é a ele cometida a grande missão que foi dada à Corte Suprema, nos Estados Unidos, quando teve que dar vida à Constituição votada no século XVIII.
A Constituição americana é um texto conciso. Basta ver o que fez o Juiz Warren. Esse experimentado político, que também se revelou um grande juiz, passa à história como um dos maiores magistrados de todos os tempos. Eu me recordo que li, no New York Times, em 1961, quando estava nas Nações Unidas, um editorial no qual se dizia que, quando daqui a mil anos se falar na década dos anos 60, não será dito que essa foi a época das grandes descobertas científicas na direção do átomo; mas, sem dúvida, se dirá que foi a era do Juiz Warren.
Foi ele quem colocou os negros dentro das escolas, quem abriu caminho para a liberdade religiosa, e por isso foi atacado, dizendo-se que ele teria expulsado Deus das escolas. Foi ele, portanto, um grande juiz.
No Brasil tem hoje o Supremo Tribunal Federal uma grande responsabilidade: a tarefa de aplicar e construir, pela doutrina, a nova Constituição de 1988.
Nos Estados Unidos a Corte Suprema teve de abrir espaços. No Brasil, o STF terá de buscar a alma, o espírito do texto constitucional, para que ele não escape no emaranhado difuso das palavras. Temos uma Constituição liberal, protetora dos direitos individuais e aberta à ampliação dos direitos sociais, contra os abusos do poder econômico, pelo primado da lei e submissão de todos os poderes ao poder político, que é a síntese de todos os poderes, porque delegado da soberania nacional. Ela sem dúvida estabeleceu também um estado social de direito. Seus defeitos residem no hibridismo e na falta de coragem de definir com clareza os mecanismos de governabilidade.
O grande desafio do Supremo nesta hora é, assim, repito, viabilizar a Constituição de 88; buscar o seu espírito; podá-la dos excessos; ampliá-la nas suas lacunas, para que seja um instrumento de estabilidade, de segurança, de defesa dos direitos sociais e civis. E que a Corte jamais seja acusada de ter negado um direito ao escravo Dred Scott, como o foi a Corte americana, envolvendo-se nas causas da Guerra da Secessão.
Nós fizemos a nova Constituição, desde os brasileiros que elegeram os constituintes que foram participantes da Constituição até todos aqueles que a ela deram a sua contribuição. O que desejamos? Desejamos aquilo que desejam todos os que fazem as constituições: que ela dure além das nossas vidas, da vida dos nossos filhos, das vidas dos nossos netos, porque quanto mais velha, mais sábia e mais sagrada.
Estou chegando ao fim. Mas está faltando, sem dúvida, a palavra que sei que o Supremo desejaria ouvir: está faltando a palavra maior ao eterno Patrono e ao Advogado perpétuo do Supremo Tribunal Federal; a evocação do grande arquiteto, do seu grande apanágio, aquele que profetizou e viu a sua missão; que em palavras de ferro e de fogo o defendeu; que nele depositou todas as certezas da história e transmitiu até nós esta devoção, que é a devoção sagrada do País, pelo seu Supremo Tribunal Federal.
Rui Barbosa!
Basta dizer-lhe o nome. Porque ele é o elo perpétuo entre o Senado, Casa a que pertenceu, e o Supremo, como Senador e Patrono da Corte.
Há palavras eternas. Quase todos os oradores que falaram pelo Supremo repetem estas palavras. Mas, por mais que sejam repetidas, elas não podem ser substituídas. E assim, vou repeti-las. Rui nos ensinou buscando nos gregos:
“Eu instituo este Tribunal venerando, severo, incorruptível guarda vigilante desta terra, através do sono de todos, e o anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje e pelo futuro adiante.”
Nós, senadores, renovamos perante o Supremo, aqui presente, o nosso juramento também, que aqui fizemos, de defender a Constituição, a democracia, a justiça, a liberdade contra o medo, o direito dos cidadãos, e abominar todas as formas de tirania. Agora e para sempre!
Muito obrigado.