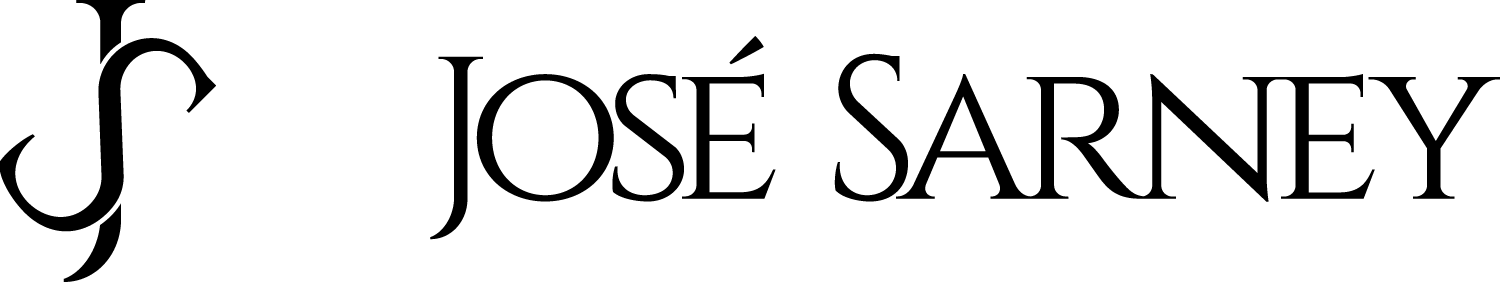O Maranhão do senador Sarney, o escritor
Em São Luís do Maranhão, no palácio dos Leões, quando termina o expediente diário, é comum ressoarem pelas janelas abertas para o azulão rio Anil vozes de cantadores populares ao som de violas. Modinhas que falam de filhas de fazendeiros seduzidas, de coronéis do interior em luta eleitoral e de cangaceiros valentes partindo do palácio do governador estadual. Para o povo do Maranhão, essas melodias fazem parte do encerramento dos trabalhos, quase que se casam com o lento crepúsculo da cidade, com seus sobrados coloniais azulejados e suas ruínas da guerra contra os franceses que ali queriam fundar a France Equatoriale, em 1600.
No gabinete de José Sarney, 39 anos, quadros de pintores primitivos maranhenses e estátuas barrocas do Nordeste do século XVIII alternam-se com mapas de estradas que cortam o Estado e com os planos da usina de Boa Esperança, que, inaugurada recentemente, veio dar ao Maranhão a opção da industrialização por meio da eletrificação de sua vasta região rural.
Em 1965, eleito ao mesmo tempo governador, na mais sensacional eleição de seu Estado, e presidente da Academia de Letras Maranhense, José Sarney rompe, ao contrário, todos os moldes acadêmicos: na administração e na literatura. É, de certa forma, a poesia no poder. Exemplo único, no Brasil, ele repete a lição africana, que tem como presidente do Senegal o grande criador da negritude, Leopold Senghor. A revolução de Sarney corre paralela.
Na administração: o orçamento estadual, no seu governo, saltou de 18 milhões para 370 milhões de cruzeiros novos; de estradas asfaltadas pulou de zero a 500 quilômetros, além de 3.000 quilômetros de estradas de terra; 85 municípios que não se comunicavam com o mundo viram pela primeira vez os fios do telégrafo e o aparelho estranho, quase mágico, que falava ao longe: o telefone; o único ginásio que havia logo teve 53 outros a lhe fazerem companhia pelo estado afora. Enquanto as matrículas escolares quadruplicavam, de 100.000 para 450.000, o Maranhão também deixava a posição de quinto para quarto Estado nordestino de maior desenvolvimento.
Na literatura: Norte das Águas (1ª ed., Editora Martins, 1970; 2ª ed., Editora Artenova, 1980; 3ª ed., Livros do Brasil, 1982) é a mesma revolução na literatura regional brasileira. Em vez do Nordeste exclusivamente voltado para o retrato realista de suas secas, de sua miséria, de sua fuga para o Sul, José Sarney mostra um rosto novo do Nordeste, desse pedaço mais ameno e mais doce do Nordeste que é o Maranhão. Não que sua literatura esteja divorciada da realidade social e econômica em que as insere. Ao contrário: seus contos de Norte das Águas brotam dessa realidade amada, profundamente conhecida e compreendida por José Sarney. Mais ainda: não seria temerário afirmar que a posição solitária de Guimarães Rosa, como vértice da grande literatura universal de cunho regionalista, tem agora dois ângulos de base: José Cândido de Carvalho, o autor fluminense da obra-prima chamada O Coronel e o lobisomen, José Olympio Editora, e agora este delicioso painel maranhense, Norte das Águas.
Uma visão poética
Sem ignorar o atraso do subdesenvolvimento nordestino denunciado nos romances ásperos de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz, José Sarney opta por uma visão poética dos elementos populares do Nordeste em seu trecho maranhense. O leitor não tem nem uma versão açucarada de um Nordeste “progressista” e sem problemas sociais nem uma mera denúncia trágica de uma situação de gritante injustiça social.
Há cangaceiros no mundo de José Sarney, e quase tão temíveis quanto Lampião e Corisco: os temíveis irmãos Boastardes, do conto inicial:
Quem são os Boastardes?
Olegantino, o mais velho, bigode ralo, testa luzidia, lábios mansos e mão gorda. Fala aos galopes de mão quebrada e seu pigarro é um “nhô, ei vento” que sai em lugar do ponto, quando o pensamento fecha. Vitofurno, o mais baixo, gordo do calcanhar ao pé do pescoço, com cara de perdido, sem abertura, de mãos leves, as rédeas do cavalo são brandas nos seus volteios, maestro do cabeção e da brida, a fazer as patas rodopiarem, estancarem, de ponto ou de maneiramente, como se pede ou ele gosta de mostrar. Mamelino, o fino, de voz rala, alto, pálido, riso bem amarelo, de duas palavras, de dois sorrisos e de um só ouvido. Chapéu de palha, sandália de frade, seu 38 é mais longo do que o cano, porque escorre na linha das ancas altas. Olegantino, Vitofurno e Mamelino, todos Boastardes, da família destes, primos carnais, viventes valentes e que andam em bando, pelas estradas e pelas festas.
Sem esquecer as maldades covardes destes bandoleiros — forçar uma mulher grávida a rolar numa espinheira, atirar num violeiro que desafinou numa festa —, o contista prefere deter-se em seu lado ridículo, em sua ostentação barata, de força, desafiada por uma caipira de fôlego, a Rita Nanica, que se sente ultrajada com suas liberdades num baile. É o grito dela ao vencer os temíveis bandidos, quando a orquestra, estarrecida de medo e audácia, para de tocar: isto aqui se arrespeita. Nosso baile é de moça, não é de rapariga.
Há beatos e fanáticos religiosos, como no conto Beatinho da Mãe de Deus que nascera “no Olho-d’Água da Paciência, terras de babaçu, cutia e carrapato, tudo de um dono só, trinta léguas no caminho das boiadas de Goiás e vinte léguas até as barrancas do Parnaíba, quando o Maranhão deixa de ser para virar Piauí”.
As curas milagrosas do Beatinho logo agitam os meios políticos: os coronéis querem seu apoio político. Pois, com uma frase do Beatinho já idolatrado no sertão, qualquer candidato (das extintas UDN ou PSD) venceria as eleições municipais.
Mas, em meio às revoltas atiçadas pela empresa de cada partido e pela política mesquinha, José Sarney opta por um desaparecimento misterioso do milagreiro Beatinho: “O Beatinho da Mãe de Deus jamais voltou ao Olho-d’Água da Paciência. A polícia o perseguiu por todos os cantos do estado. Foragido aqui, escondido ali, não pôde mais rezar a ladainha da Mãe de Deus (que começava Mãe de Deus, rogai por nós) nem mandar os caboclos não pagar foros, nem impedir a polícia de cobrar metade do ganho pelas bancas da caipira e roleta.”
Alguns meses depois, sua notícia era apenas uma carta do deputado Botelho:
Vosmecê, seu deputado Botelho. Entrego a Vossa Alteza os mistérios de minha igreja e os prejuízos que a Polícia me deu. Peço três vidros de inhame para izipra do sangue.
Deus seja. Deus quer, Deus quis, Deus seja louvado. Dou minha benção da Mãe de Deus.
Ass. João Almeida do Zeferino, Beatinho da Mãe de Deus.
A Comédia
É em meio a uma sensível observação do meio popular que o escritor maranhense tece o momento cômico, enternecedor, dessa esplêndida galeria popular nordestina. Os indolentes Irmãos Bonsdias, na mira da solteirona Rita Nanica (a mesma que vencera os cangaceiros do conto inicial):
Rita Nanica, sem pendores e decidida, não deixava sempre de dizer, em letras todas:
— Para São Pedro, não vou ficar. Até cansar-se da indecisão deles diante de seu pedido de “morada junto” e que se muda com seus pertences para a casa deles, declarando sem rodeios: “Olha, seus Bonsdias, vocês por vocês mesmo não arrumam mulher. Pois ela chegou. É para um e para três.”
São as cantigas populares, colhidas na sua graça ingênua e sem retoques:
São Longuinho era cego,
no peito de Deus mamou.
Logo que o sangue saiu,
a vista quilareou…
A burrinha do Joaquim,
Tinha um buraco de angu.
Foi o rato que roeu,
pensando que era beiju.
Se Deus fez o homem assim,
pra que tu quer acabar.
Viva as estrelas do céu,
O quati e o sabiá.
Vremeião, feio e ladrão,
Da veíce à dentição
No sertão do Maranhão
Somente seu Absalão.
Os coronéis
Há coronéis no mundo maranhense feudal que o autor descreve. São os inimigos políticos, os coronéis Javali e Guiné, que disputam as eleições com armas curiosas e inesperadas: com apostas pra ver quem é capaz de soltar mais rojões e foguetes nas festas juninas, quem é mais rico — o coronel que compra o primeiro jipe que o interior já viu, embora não haja estradas para veículos, ou o coronel que inaugura um alto-falante que transmite em meio às mensagens eleitorais valsinhas e toadas de desafio. Versos anônimos mas ferinos aparecem como arma política, numa terra em que a sátira pode esvaziar uma campanha, como as quadras da história de Dona Cota, que aparecem na porta de um açougue, acusando o prefeito, dono de uma loja de fazendas, de roubo e de inépcia administrativa:
Diz este povo todo
Deste Brejal malfadado
Que anda muito abusado
Com essa sua gestão.
No entanto a sua loja
Repleta está de fazendas,
Sedas, cambraias, rendas…
E na rua é um grande matagal
Que vive desafiando
A foice prefeitural.
E você no Gabinete
Exclama bem satisfeito
Como é bom se ser Prefeito…
Montado com boa bota
Casado com Dona Cota.
O mendigo cego Francelino resolve intervir na disputa e agradece as esmolas tocando um berimbau e cantando corajosamente:
Deus lhe pague a santa esmola,
Deus lhe dê riqueza e fé;
Mas livrai vossa sacola
Da mão do Seu Guiné.
um jingle político que lhe vale um prato de comida na casa do coronel Javali.
Assim como a reparação de seduções de virgens por meio do casamento dos “fazedores do mal a inocentes” passa a ser um argumento de apaziguamento político, graças à intervenção salvadora do bom vigário padre João, que declara as eleições empatadas e reconcilia os chefes políticos inimigos: “Javali e Guiné continuariam suas brigas noutras oportunidades, comprando o babaçu e o arroz pelo preço combinado, e o povo de Brejal
feliz: oitenta por cento de tracoma, sessenta de boba, cem por cento de verminose, oitenta e sete de analfabetos, mas feliz, ouvindo a valsa do Brejal, Brejal dos Guajajaras.”
O arrojado e o tradicional
O antigo estudante de advocacia em São Luís, José Sarney, que costumava deslumbrar seus colegas e amigos contando coisas e varando a noite, logo utilizou seu poder quase hipnótico de narrador como instrumento político: seus discursos arrebatavam a multidão e sua argumentação arrebatou, em reuniões da Sudene, fábricas importantes para o Maranhão, fábricas cobiçadas por estado mais ricos como o de Pernambuco. Ficou
célebre a disputa oral entre José Sarney e o governador pernambucano Nilo Coelho, que rivalizavam no prédio da Sudene, em Recife, pela localização de uma fábrica de celulose. Cansado de argumentar com dados estatísticos, que mostravam claramente que o Maranhão estava muito mais necessitado do que qualquer outro Estado nordestino, exceto o Piauí, daquela injeção de progresso, Sarney ganhou rinha, arrancando aplausos até dos funcionários, dirigindo-se ao governador pernambucano com ar súplice:
— Afinal, eu não acredito que o senhor queira tirar pão da boca de cego!
Como o novo Maranhão, que ele inaugura em meio ao contagiante entusiasmo popular, José Sarney mistura, na sua vida particular, na sua administração e na sua literatura o revolucionariamente novo, arrojado e o tradicional. Pilota ele mesmo, frequentemente, o avião do governo, um Beechcraft, mas vai antes de qualquer viagem pedir a benção à mãe a caminho do aeroporto. Fundou em São Luís uma revista literária, A ilha, e distinguiu-se nos meios econômicos por um ensaio social de grande lucidez: Pesquisa sobre pesca de curral. Inaugura a ponte que liga a capital maranhense situada numa ilha ao litoral e o porto de Itaqui, na mesma semana em que traz com ar de triunfo velhos mapas de São Luís, comprados em antiquários de Recife, do Rio e da Bahia, para ornar as paredes do palácio dos Leões.
Sua equipe jovem, de idade média de 33 anos, é cantada em música e versos nos discos gravados por Jorge Goulart e Altamiro Carrilho. Flâmulas, camisas, mapas e slogans da sua administração celebram a inauguração da Usina de Boa Esperança. Literariamente, José Sarney fez o Maranhão retomar os caminhos que o tornaram, ao lado de Minas Gerais, um estado singularmente dotado para a poesia, o teatro, o conto e o romance. Descendente intelectualmente de Gonçalves Dias; Humberto de Campos; Odylo Costa, filho; Aloísio e Artur Azevedo; Sousândrade; Graça Aranha; Catulo da Paixão Cearense e Raimundo Correia, José Sarney consagra-se, com este livro de estreia, como um dos mais importantes escritores regionalistas do Brasil moderno. A revolução que ele trouxe ao Maranhão reflete-se na atuação desse veio difícil e tradicional: o regionalismo que ele renova com sua paisagem humana, sua poesia, sua afinidade com a ingenuidade, a pureza e a graça maliciosa do povo maranhense, mosaico do povo brasileiro. Antes que as lamparinas se apagassem pelo interior do estado engatinhante na redenção socioeconômico, já este excelente Norte das Águas iluminava com um brilho novo o terreno desse delicado virtuosismo verbal: o equilíbrio entre elaboração erudita e transcrito de uma literatura oral que é, em última análise, a literatura de cunho regional.
É, literalmente, um novo Nordeste, pujante, não entregue ao fatalismo da mera constatação de mazelas sociais, que pulsa nestes contos variados, que vão da tragédia da fuga de um capataz negro com a filha branca do fazendeiro poderoso ao misticismo ingênuo do Beatinho, da verve brejeira das proezas eróticas da Rita Nanica e seus três maridos até o painel delicioso de uma luta eleitoral por meio de foguetes, jipes e alto-falantes.
Norte das Águas é um livro que o leitor que se interessa pelos grandes momentos de nossa literatura em plena afirmação qualitativa não pode perder, pela sua renovação de um estilo e pela marca indelével de um mestre que se reconhece, firme, desde sua estreia.