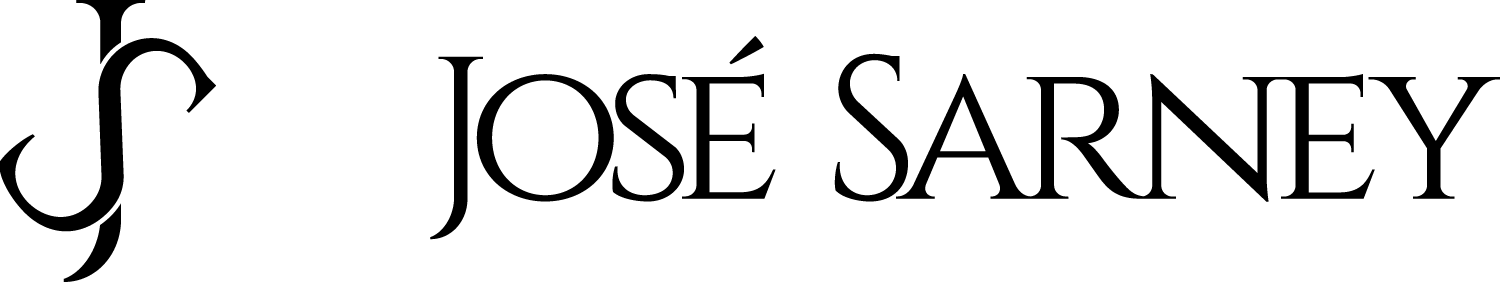[vc_row][vc_column][apress_heading sub_title=”Escritor, autor teatral e jornalista. Folha de São Paulo, 28 de Julho de 2001.” content_alignment=”right” delimiter_line_height=”1″ delimiter_line_width=”” color_scheme=”design_your_own” main_heading_color=”#000000″ style=”heading_style5″ title_font_options=”tag:h6|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:p|color:%23000000″ delimiter_line_color=”#ffffff”]Marcelo Rubens Paiva •[/apress_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sobre Norte das Águas
Contos de José Sarney lançam olhar poético sobre extremos
Em 1969, Guevara, Martin Luther King e Bob Kennedy já estavam mortos, o Brasil vivia sob o AI-5, jovens cabeludos de lá pediam paz e amor, enquanto os jovens daqui pegavam em armas.
Em 1969, a editora Martins lançava Norte das Águas, livro de contos de José Sarney — então um político secundário da Arena, braço civil do regime militar brasileiro —, agora relançado pela Siciliano numa cerimônia de pompa que homenageia os 70 anos do autor com uma exposição de sua trajetória política.
O que mata um crítico é o preconceito. Muitas vezes, lê-se uma obra com as ambiguidades da vida pessoal do autor em primeiro plano. Não há transparência em divergências ideológico-históricas. Mas um livro é um livro.
Em 1995, Sarney lançou o primeiro romance, O Dono do Mar, livro sobre aparições de náufragos do litoral maranhense; a história do pescador Antão Cristório vendeu 40 mil cópias no Brasil, foi lançado em vários países, teve admiradores como Lévi-Strauss e está virando filme, com direção de Odorico Mendes.
Em 2000, Sarney lançou o segundo romance, Saraminda, um épico que se passa na Amazônia sobre garimpeiros e uma garota Créole que se dizia virgem, andava nua, tinha a pele escura, os olhos verdes e os bicos dos seios dourados, como o ouro. Para escrever O Dono do Mar, Sarney se baseou em seu ensaio sociológico sobre a pesca, feito quando era jovem. Para Saraminda, se meteu na mata sozinho e conviveu com garimpeiros.
Um açude separa o livro de contos dos dois romances. Há quase três décadas, Sarney pesquisava a linguagem, reinventava o Maranhão, contando histórias com intrigas políticas, traição, sangue e sexo. Os contos de Norte das Águas parecem escritos sob a regência de Guimarães Rosa. Não há linearidade. Há uma explosão semântica.
Os Boastardes são três primos que aterrorizam as cidades. Os dedos no gatilho são mais ligeiros que cobra na areia quente. O final é trágico, como tudo na região.
Os Bonsdias também são amigos para sempre, uns coitados preguiçosos cheios de mania: um não podia ouvir porco morrendo, o outro não podia com peixes, e o terceiro sofria com odores fortes. Uma mulher baixinha e valente tomava conta dos três. E tinha os Boasnoites, também três parentes, que gostavam de cantar desafio pelo Maranhão.
Na América Latina, em que a desigualdade e as injustiças tocam os sensíveis e se acredita que um escritor seja uma maré influenciável pelas dores do próximo, existem autores de direita, como Nelson Rodrigues e Borges.
Existem os apolíticos, como Machado de Assis, e uma gama de escritores de esquerda, como García Márquez e Oswald de Andrade, que vão dos que têm carteirinha, como Graciliano Ramos e Jorge Amado, aos que mudaram de lado, como Vargas Llosa.
Existem duas pessoas em José Sarney. Uma é o político nacionalista, que não participou do golpe de Estado de 1964, mas seguiu carreira na Arena e virou um dos arquitetos da transição. Sua carreira pode ser confundida com a de um coronel proprietário de terras do Maranhão, onde sua família detém um poder feudal.
E existe um surpreendente escritor José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras, que, a cada livro, funde a cabeça da crítica. Norte das Águas, que vai virar minissérie na Record, é um livro em que o escritor Sarney parece contar as desgraças das vítimas do sistema político que alimenta. Mas, também, é um olhar poético sobre a região em que se vive entre extremos, com sangue e sexo ebulientes. Norte das Águas é o
laboratório de seus surpreendentes romances.
Escrever sobre um livro de José Sarney impõe que se estabeleça uma separação clara entre aquele que foi deputado federal, governador do Maranhão, senador e presidente da Arena e que, atualmente, lidera o Partido Democrático e Social, e o escritor José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras. Porque a tentação existe para o melhor e para o pior: para que os seus correligionários digam que ele é um grande escritor, para que os seus adversários digam que é um mau escritor e para que os indiferentes façam comparações entre o escritor e o político.
Ora, é necessário vincar, sem nenhuma ambiguidade, que estamos perante um grande escritor que o seria de qualquer modo, independentemente de uma carreira política boa ou má, e, nessa matéria, talvez haja que lamentar o prejuízo que a literatura de expressão portuguesa tem vindo a sofrer pelo fato de José Sarney não se dedicar exclusivamente a ela.
Já que estou em maré de afastar tentações convém afastar uma outra: a de ligar demasiadamente a escrita da Sarney à de Guimarães Rosa, porque, nessas coisas de literatura, a pressa é má conselheira. A verdade é que, desde que o gênio de Guimarães Rosa trouxe uma nova dimensão à literatura dita regional — não exatamente e tão só uma dimensão universal, mas a própria reformulação do que pode haver de essencial nos ritmos imediatos e vitalistas da espécie humana —, desde que isso aconteceu, dizia eu, é difícil separar qualquer texto, que escape à pobreza da literatura regionalista tradicional, da lição e da mensagem rosiana, quase sempre em termos de sobreposição ou seguidismo fácil. Nada de mais injusto em relação à escrita de Sarney que, em certa medida, faz exatamente o contrário de Rosa. Neste, o tecido do tempo e espaço regionais funciona como pretexto para a recriação da linguagem que, como bem refere Lucy Teixeira, é, em Guimarães Rosa, o grande personagem. Em Sarney, a linguagem funciona como instrumento da recriação do tempo e do espaço regionais que são, em Sarney, os verdadeiros personagens da sua obra.
Creio que os escritores que se preocupam com o levantamento do tecido “irracional” de uma comunidade estão prestando aos nossos vindouros um serviço inestimável. Quando o bulldozer da racionalidade econômica ou o da revolucionária, ou os dois conjuntamente, retalharem e destruírem irremediavelmente o tecido que foi o espaço e o tempo do povo, como poderemos reconhecer, não já com ignorância mas com sabedoria — com a douta ignorância — o que somos, a fim de podermos reaprender e retomar os ritmos primordiais da vida?
Exatamente, não sei, mas julgo que talvez a literatura seja então o único documento através do qual, não por puro deleite mas por necessidade de sobrevivência, nos possamos aproximar da decifração desse enigma.
Seguindo a fraqueza do exemplo direi que é possível admitir que um dia a expressão visível da sociedade portuguesa, como comunidade, possa desaparecer. Como comunidade que vive e respira num determinado tecido onde é possível reconhecer uma específica e intransmissível identidade que se exprime por liturgias próprias, que nos comunicam as alegrias, as dores e o fantástico poder do sentimento. Nesse contexto, a língua contém a forma da presença de uma história que avançou por um destino temporal, que não é possível imaginar senão através dos símbolos e dos sentimentos que nos revelam a existência subterrânea de textos sagrados e poéticos e de tudo o mais que representa a “ecologia” profunda da alma no meio ambiente que, através das circunstâncias da história, pacientemente descobriu adequado. Se um dia for definitivamente quebrada essa espécie de movimento que segura uma hereditariedade e a projeta numa espiritualidade — que é a expressão do nosso encontro coletivo — penso que por meio da escrita de Camilo Castelo Branco será possível refazer os traços desse dinossauro, revelador da nossa ancestralidade, e reencontrarmos nele as nossas origens e as matrizes primeiras na nossa vivência/convivência coletiva.
Para mim, a expressão literária de José Sarney se coloca exatamente aí: o escritor que guarda da cultura cultivada quase só a aprendizagem da escrita e o uso da caneta e que é capaz de encarnar o médium revelador desse tecido do tempo e do espaço que os nossos humores, quase puramente vitais, construíram, para fixá-los num texto que funciona quase como o gravador do etnólogo que colhe da boca dos moribundos os últimos cantares que acompanharem a solenidade dos dias fastos e nefastos comunitariamente vividos.
Esse milagre de reencarnação consegue Sarney de uma forma exemplar, colocando, entre a sua escrita e a do “escritor regionalista”, a vala abissal que separa a festa do folclore, isto é, a vida do espetáculo ou, mais propriamente, o sofredor do espectador, ou ainda, o possesso do ator.
Essa metamorfose, esse “pegar de santo”, que já seria de admirar num escritor comum, atinge uma transfiguração radical em relação ao Sarney político, porque o político é, por natureza, insensível a essa realidade profunda e, por essa razão, se tornou o seu inimigo principal: o político quer a “tabula rasa”, quer a página em branco onde possa escrever o sistema simplificador e redutor que construiu dentro da sua cabeça, inacessível à subtileza das complexidades, da particularidade e do instante.
Resta-me acrescentar que, não obstante esse milagre de transfiguração, no último período do Brejal dos Guajas, o político aparece no livro com a discrição com que Hitchcock fazia questão de comparecer, em carne e osso, em todos os seus filmes: “Javali e Guiné continuaram suas brigas em outras oportunidades, comprando o babaçu e o arroz pelo preço combinado, e o povo do Brejal feliz: oitenta por cento de tracoma, sessenta de boba, cem por cento de verminose, oitenta e sete de analfabetos, mas feliz, ouvindo a valsa do Brejal, Brejal dos Guajajaras.”
Em nome de uma comunidade em agonia que os políticos têm ajudado a destruir com a crueldade dos seus esquemas simplificados e redutores, atrevo-me a desejar que o escritor José Sarney faça igualmente na vida política as suas aparições, se possível mais frequente e mais demorada que as de Hitchcock nos seus filmes.
Talvez isso possa contribuir para que haja outra bem diferente relação entre uma política e uma comunidade. Porque é possível que o mundo, mais do que ser transformado, tenha necessidade de quem, como o escritor José Sarney, tão bem o compreenda e o respeite.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]