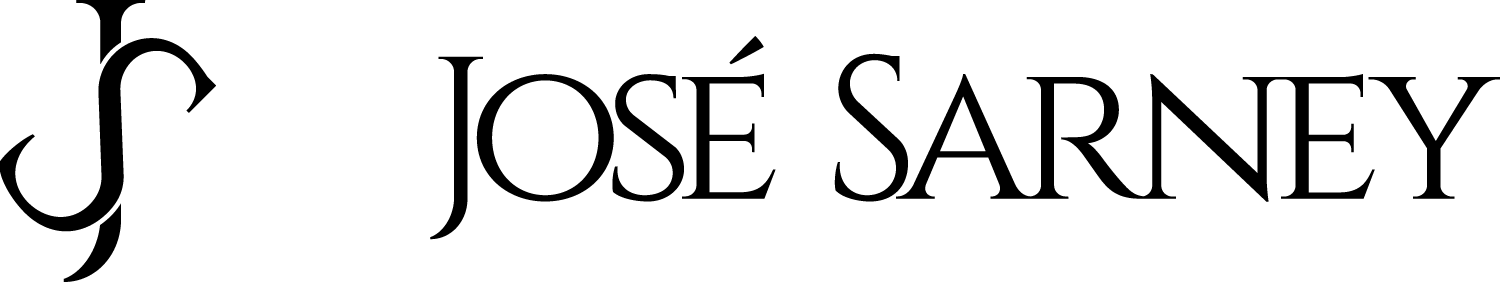Camões Center for Portuguese Studies, Columbia University, Nova York, Estados Unidos da América, 20 de maio de 1991
Agradeço muito ao Professor Kenneth Maxwell a oportunidade e o convite para estarmos juntos no Camões Center.
Esta instituição conquistou a posição de um centro de referência na comunidade de língua portuguesa para todos aqueles que vivem uma permanente reflexão sobre a nossa história, arte e literatura.
A Columbia University tem dado uma contribuição extraordinária para nossa cultura. Ela nos fala de Gilberto Freire, aqui estudante, tendo como orientador o grande antropólogo Boas. Depois, com a formação que aqui adquiriu, escreveu este monumento de nossa literatura que é Casa Grande e Senzala.
Colúmbia nos fala de Charles Wagley, protestando centra o autoritarismo, de Alfred Stepan, de Ralph Dellacava e de Kenneth Maxwell em livros marcantes de análise de nossa história.
Político e escritor, estas vertentes me fazem ter a dimensão exata do Camões Center.
A melhor maneira ele marcar esta visita é a de dizer algumas palavras sobre um tema que é o instrumento de nossas preocupações, a ferramenta do nosso trabalho: a língua portuguesa. O milagre da língua portuguesa.
Nestes últimos quinhentos anos, o português transformou-se de um idioma oceânico num idioma continental.
Ao iniciar, no século XV, sua expansão para fora da faixa mais ocidental da Península Ibérica, ganhou primeiro o Atlântico e depois o Índico, fixando-se nas ilhas e nos pequenos e numerosos portos ao longo das praias que bordejam o que os gregos chamavam de Rio Oceano. Língua de marinheiros, tornou-se o idioma de ligação dentro dos breves espaços das feitorias e o falar do comércio com os povos que lhes eram vizinhos. Impôs-se como língua de beira-mar e de viagem, insulana, quer a cercasse o mar ou a isolassem a estranheza e a hostilidade das terras que a envolviam. Isso não impediu que se tornasse a língua franca do mercadejo nos litorais da África e do sul da Ásia, que se fizesse a língua de corte, a exemplo do que sucedera com o francês na Europa do século XVII, em reinos africanos como os do Benim, do Congo e do Warri, que entregasse palavras e modos de dizer a numerosas línguas, do iorubano ao japonês, que marcasse profundamente não só o vocabulário mas também a sintaxe de idiomas como o papiamento e o urrobo, que criasse novas línguas, como os crioulos de Cabo Verde, de Casamansa, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Ano Bom, e os papiás de Málaca, do Ceilão, de Macau, do Timor e da índia.
O açúcar, o ouro e o gado fizeram-na, com relativa rapidez, ganhar o interior do continente sul-americano. E, se mais lento foi o avançar pelos planaltos africanos, subiu o Zambeze e se instalou nos “prazos” de Moçambique e percorreu, em Angola, o Cuanza, o Loja, o Dande, o Cuvo, fixando-se, ali e acolá, em entrepostos, vilarejos e acampamentos de pombeiros. Abandonou, pouco a pouco, sua insularidade. Saiu dos navios e das praias, para expandir-se terra firme adentro, acabando por consolidar-se num imenso espaço territorial, que é dos mais amplos do mundo em que se fala o mesmo idioma. E fala-se o mesmo idioma com invulgar unidade, uma unidade que se superpõe aos regionalismos que o enriquecem e que o tornam, sem qualquer esforço, naturalmente compreendido por todos os que o falam ao longo do grande arco que corre da Europa até Timor-Leste.
O século XVII viu o castelhano ser expulso de Portugal como língua de cultura. O fim da centúria seguinte assistiu à vitória do português sobre o abaenga, o nheengatu e os idiomas africanos que se usavam — e às vezes até exclusiva ou predominantemente — em amplas áreas rurais e em muitas cidades e aldeias brasileiras. Nas nações africanas, já em nossos dias, o movimento de descolonização e o acesso à independência, se revalorizavam os crioulos e as línguas nacionais — o umbundo, o quimbundo, o lunda, o quicongo, o sualii, o macondo, o macua, o tonga, o suazi, o fulfude, o beafada, o mandé, o bijago —, davam um novo impulso ao português como idioma político, de entendimento interno e projeção externa, e de criação literária. Na África, para vários setores da população, o português passou a ser uma língua materna.
A interiorização do português fez-se ao longo de um processo histórico em que perdeu ele o seu estado de língua franca oceânica e mercantil. Em muitas partes, tornou-se um idioma quase esotérico de guetos e famílias que guardavam e guardam as tradições portuguesas e brasileiras. Em outras, mudou-se em História, na memória de uma Lagos, na Nigéria, onde, até a metade do século XIX, se falava o português, não apenas na Portuguese Town e no Brazilian Quarter, mas em toda a cidade; nas lembranças e festas de uma Ajuda, de um Porto Novo, de um Porto Seguro, na República do Benim, e de Agoué e Anécho, no Togo; nas recordações de Joal e outros pontos da Senegambia onde viviam os “lançados” e os luso-africanos.
O que perdeu junto ao mar, o português recuperou multiplicado nos sertões americanos e africanos. Neles, onde ganhou as orelhas e as bocas, ficou. Ficou, enriquecendo-se. Pois foi sempre, desde quando se movia nas quilhas dos navios, um idioma aberto às influências das mais várias geografias e dos mais diferentes falares. E de tal forma, que, hoje, dizemos palavras, e as colocamos em nossos poemas, colhidas no Japão e na China, na Malásia, na Índia, no Ceilão e na Indonésia, no mar Vermelho e no Golfo Pérsico, na Costa e na Contra-Costa da África, entre os tupis, os tapuias, os caribes e os aruaques da América, sem perder aquelas que já estavam nos cancioneiros galaico-portugueses.
Há línguas fortes e línguas fracas, conforme a tenacidade das gentes que as falam e escrevem. Lançada ao mar pela escassez de terras, ao deparar as vastas, derramadas e quase infindáveis extensões do Brasil, a língua portuguesa ali se fincou e expandiu, labrega, imperiosa e aventureira, tornando-se o vernáculo dos descendentes dos ameríndios e dos que lá chegaram a falar os idiomas da África, o castelhano, o italiano, o alemão, o árabe, o iídiche, o russo, o polonês, o japonês ou o coreano. Impôs-se, unificadora, pela vontade enérgica dos que haviam para ela separado com exclusividade uma porção da Península Ibérica e por sua força expressiva íntima, rica de entonações e matizes, capaz de por em palavras as novas formas com que se revelava um mundo até há pouco desconhecido e que descreveram João de Barros, Fernão Mendes Pinto e Camões, mestres da língua oceânica e fundadores do primeiro idioma dos grandes espaços, no qual respira um homem universal.
O português prático e lírico de Dom Diniz tomou ainda mais força no passar dos séculos e no desenrolar de uma cultura com sucessivos renascimentos, tanto em Portugal quanto no Brasil e, já agora, nos países lusófonos da África. O nosso século presencia um alto momento de afirmação do idioma, com todas as suas principais vertentes — a brasileira, a lusitana e as africanas — a insistirem num uso da linguagem que se quer, por antigo, permanente, sem que deixem de explorar até o fundo as virtualidades das diferenças regionais e de potenciar emocionalmente o vocabulário da vida comum, a sintaxe do curral, da leira e da rua, a multiplicar assombrosamente as variedades do discurso, como se vê, para ficar em poucos nomes, em Aquilino Ribeiro, Mário de Andrade, Guimarães Rosa e Luandino Vieira.
É nas memórias e histórias da infância que é mais clara e nítida essa diversidade de modos de falar e de metáforas, a espelharem diferentes maneiras de viver na vastidão do mundo em que se cresce em português. Mas é nelas também que se mostra a força da unidade fundamental do idioma, que faz com que, de um extremo ao outro do universo lusíada, todos nos sintamos os mesmos meninos de José Lins do Rego, Miguel Torga, Baltazar Lopes, Pedro Nava, Alçada Baptista e Luis Bernardo Honwana.
Em nenhum outro século debruçamo-nos tanto sobre nossas infâncias. Talvez por isso mesmo, em nenhum outro século a língua portuguesa foi tão fecunda em grandes poetas, isto é, se desvendou tão ampla e profundamente a si própria. Em português escreveram e escrevem, em nossos dias, poetas como não os há, em conjunto, melhores em outros idiomas, a começar pelos Fernandos Pessoa, que pluralizam Camões, e por Carlos Drummond de Andrade, votado também a um destino de leitura universal, e a prosseguir, numa lista que encheria estantes, se aqui não fosse apenas exemplificativa, com Mário de Sá-Carneiro, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Jorge de Lima, José Régio, Murilo Mendes, Cassiano Ricardo, Jorge de Sena, Vinícius de Moraes, Agostinho Neto, Sophia de Melo Breyner Andresen, Bandeira Tribuzzi, João Cabral de Melo Neto, Ruy Belo, Ferreira Gullar e Antônio Ramos Rosa. Em muitos desses — e em outros, como Abgar Renault, Darcy Damasceno e David Mourão-Ferreira — continua a fluir a alta tradição da poesia mediterrânica que está na raiz do cantar em português; em outros — como os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari, E. M. de Melo e Castro e Salette Tavares — a invenção e a pesquisa moldaram novos modos de expressão que se difundiram de nossa língua para outros idiomas.
Essa poesia revela a um só tempo, como toda grande poesia, o criador individual, o sentir coletivo e a pluralidade de nossa aventura, da aventura dos que falamos o português e que se mostra também, e com enorme força, em nossos ficcionistas, naqueles que escavam fundo a angústia e o desamparo do homem, como Graciliano Ramos, Vergílio Ferreira, Clarice Lispector e Dalton Trevisan, naqueles que nos devolvem a epopeia como Érico Veríssimo e José Saramago, e o mundo enquanto fábula, como José J. Veiga e Mário de Carvalho, naqueles que eternizam o homem na paisagem, como Rachel de Queiroz, Alves Redol, Castro Soromenho, Agustina Bessa-Luís e Pepetela, naqueles que explicam ou iluminam de sonho as suas cidades, como Jorge Amado, Marques Rabelo, Lídia Jorge, Josué Montello.
Essa tradição de olhar liricamente o mundo impregna igualmente a obra de tantos que nos procuraram pensar e explicar com originalidade e coragem, como Jaime Cortesão e Gilberto Freire, sem que em nada sacrificassem a visão objetiva e o rigor. Ao escreverem sobre filosofia, geografia, história, sociologia, antropologia ou economia, souberam ser artistas, mestres da prosa como Antônio Sérgio, Tristão de Athayde, Luís da Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, Orlando Ribeiro, Caio Prado Júnior, Vitorino Magalhães Godinho e Mário Pinto de Andrade. A nenhum faltou a convicção de que só podíamos abrir janelas sobre nós mesmos com as mãos da língua portuguesa, esta que faz da soma das nações tão distintas que a falam e usam uma inevitável comunidade do sentir e do pensar, e de cada um de nós que a temos na boca, um filho de sua província, de seu país, e ao mesmo tempo, dos amplos espaços continentais e insulares em que nos fraterniza o primeiro idioma que foi verdadeiramente universal, ouvido em quase todas as latitudes e longitudes, e no qual se deu a primeira notícia da unidade do homem sobre a terra.
Esta instituição tem o nome de Camões. Ele acompanhou a aventura da língua. Foi o poeta soldado. Viveu a guerra. Enriqueceu sua experiência. Em Ceuta, no norte da África, depois em Moçambique, Índia, China. Na corte seria o poeta cortesão. Na aventura das conquistas recolheu solidões e vida que lhe possibilitaram trazer de volta a língua dos viajantes, para torná-la a língua de cultura, canônica, definitiva, eterna, dos Lusíadas, participando da obra de Deus, mudando o mundo na transfiguração das palavras.
Língua de impérios, catedrais, revelações; de milhões e mais milhões de gentes, de um povo pequeno, de andarilhos, navegadores, mercadores, anunciadores da salvação, depois de boiadeiros e faiscadores, de todos que a aprenderam como instrumento de pensar e falar juntos em todas as latitudes, sentir e viver emoções, viver e morrer nas mesmas palavras de súplica. Esta língua é um milagre. O milagre da língua portuguesa. Caminhou nas caravelas e voltou tão forte e bela, que está aqui, hoje, 500 anos depois, ouvida na Columbia University, sob a invocação de Camões.