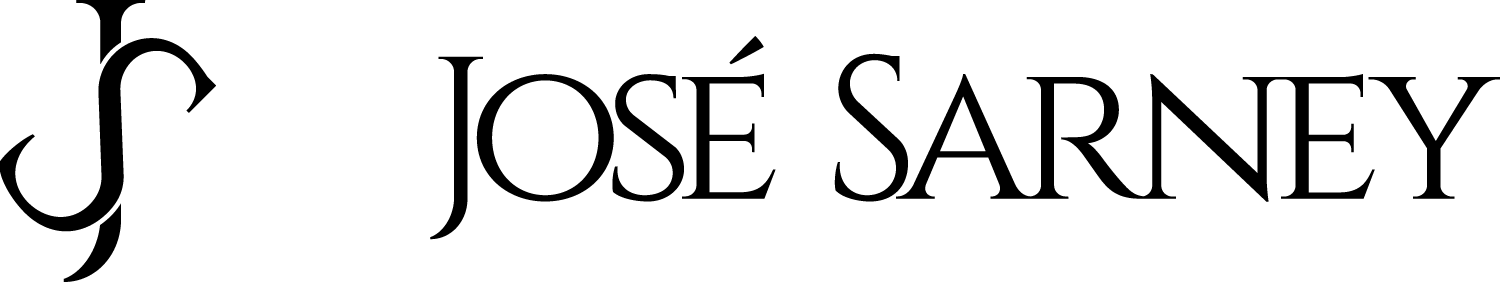Sem pão e sem medo
Norte das Águas, de José Sarney, apareceu em 1970. Guimarães Rosa morrera em novembro de 1967. José Cândido de Carvalho publicara O Coronel e o Lobisomem, em 1964. Josué Montello disse muito bem que José Sarney está para o Maranhão como Simões Lopes Neto está para o Rio Grande do Sul e o primeiro Afonso Arinos está para Minas Gerais.
Entenda-se. A pura identificação do escritor com a sua terra, com o seu povo. O Maranhão é a matéria e o sentido da sua obra de ficcionista. Norte das Águas é, assim, a revelação do escritor, no plano da literatura regional. E Josué pondera — “Literatura regional que, por seu valor e sua modernidade, tem circulação nacional.” Regionalismo que se integra naquele brasileirismo, de que nos falava Tristão de Athayde no seu admirável estudo sobre o sertanismo, no ensaio a respeito de Afonso Arinos. Sarney é um alencarino.
“Obra de arte ajustada ao seu tempo, como criação e expressão técnica”, observava Josué, com verdade. Ao tomar posse no Pen Club do Brasil, José Sarney reconhecia em si próprio a dupla vocação — a literatura e a política. Político e escritor, sim. Mas distinguia logo: a política foi o destino, a literatura foi a vocação. E as duas perspectivas nele se uniram, harmoniosamente.
A substância da sua ficção é a realidade maranhense. E, por isso mesmo, foi pedir ao padre Antônio Vieira a epígrafe da sua obra ficcional. A epígrafe é expressiva. O político percorreu o seu estado de um extremo a outro, dizia Montello, e dessa intimidade física, real, concreta, existencial, nasceu uma ciência minuciosa, que se transmitiu ao escritor.
Não é uma literatura política, longe disso. Mas há numerosos elementos da sua vasta experiência política nas páginas do contista. No mesmo ano de 1965, em que ele elegeu governador de seu estado, foi eleito presidente da Academia Maranhense. Léo Gilson Ribeiro pôde escrever com razão que Guimarães Rosa como vértice da literatura universal de cunho regionalista tem dois ângulos de base — José Cândido de Carvalho, com o inimitável O coronel e o lobisomem, e Norte das Águas, o painel maranhense.
Há um sentido regionalista e nacionalista na obra do escritor José Sarney. E adequadamente sua cadeira na Academia Brasileira de Letras é a de José Américo de Almeida. E sucedeu a Pedro Calmon na Academia das Ciências de Lisboa. A poesia no poder, exclamava Léo Gilson Ribeiro. E aproximava José Sarney do fenômeno Leopold Senghor, do Senegal, saudado efusivamente na Academia Brasileira por Tristão da Athayde, que lhe declamou Cruz e Souza.
Ao tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Sarney proferiu um discurso a que podemos chamar nacionalista. O seu brasileirismo se manifestava com nitidez. E ele até citou Euclides, no discurso de posse deste, na aurora do século, em que nos fala do seu orgulho de ser brasileiro. Esse brasileirismo está nos contos de Norte das Águas, livro revelador.
Aurélio Buarque de Holanda resumiu o sentimento geral — “Que bom livro.” E na concisão dessa palavra estava um julgamento sereno, objetivo. Álvaro Pacheco escreveu que Norte das Águas:
É alguma coisa do melhor que já se fez em literatura brasileira, no campo de Graciliano, Rosa, Palmério e João Ubaldo. Como nestes quatro, tem uma linguagem nova, uma força lírica e telúrica, a invenção verbal, o retrato, no sol e na lua, na ponta da faca e na luz da conversa, de uma raça heroica que nasceu e está lá, dos sertões de Minas até o Parnaíba e o Mearim. Dessa raça nordestina de que somos feitos e que estes quatro, Graciliano, Rosa, Palmério e Ubaldo, e mais Sarney, foram os que, até agora, no meu gosto, melhor retrataram e trouxeram mais força, vigor, poesia e realidade para dentro da literatura.
Há uma aliança entre a vida política e o senso poético, nas ficções de Norte das Águas. Vejo nos contos simultaneamente uma visão extremamente realista, meticulosa, precisa, exata, e uma visão poética, lírica, uma espécie de transfiguração do real.
O Brasil está vivíssimo, nestas histórias de gente matuta. O Maranhão, o Nordeste, o Brasil. A vida cotidiana do povo, as brigas políticas, os coronéis, os cangaceiros, a religião, a culinária, a paisagem, as matas, os rios, o amor e a morte. José Sarney viu a realidade concreta, econômica e social, compreendeu a psicologia das suas personagens e iluminou tudo com uma intuição criadora, que lhe vem da sua intimidade com a poesia.
Sarney se integra numa longa árvore genealógica que, no século XIX, tem as suas expressões mais altas em Bernardo Guimarães, Alencar, Taunay e Franklin Távora. O brasileirismo se exprime através de cinco perspectivas — a cidade, a praia, o campo, as selvas, a roça. Alencar expressou tudo isso, na sua obra globalizante. E Machado de Assis pôde falar da unidade nacional da obra alencarina.
Instinto de nacionalidade, chamou Machado a um dos seus melhores estudos críticos. É o que vemos na criação de Alencar. O litoral, no Ermitão da glória, a cidade, em Pata da gazela, o sertão em O gaúcho ou O sertanejo, as selvas, em Iracema ou Ubirajara, a roça em O tronco do ipê ou Til. O mesmo brasileirismo, em Lendas e tradições do Norte, de Franklin Távora, com O cabeleira ou O matuto.
A corrente roceira e sertanista é a grande corrente da literatura do Brasil. Veja-se a obra-prima de Lúcio de Mendonça, 1877, Coração de caipira. Há um fio condutor que passa por Dona Guidinha do poço, de Oliveira Paiva, pelo Cacaulista, de Inglês de Souza, por Luzia Homem, de Domingos Olímpio, por O sertão, de Afonso Arinos, Maria Bonita, de Afrânio Peixoto, Os caboclos, de Valdomiro Silveira, Urupês, de Monteiro Lobato, que Rui celebraria na sua famosa conferência sobre a questão social no Brasil, em 1919, no Teatro Lírico.
E penso no vigoroso e original Simões Lopes, no Alcides Maia, de Ruínas vivas e Tapera, em Tropas e boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos. Refiro-me apenas aos mortos, e aos maiores. A literatura ficcional de Sarney está nesta linhagem capital. É toda amor e violência, é toda emoção, paisagem e ação.
O Maranhão aqui está, palpitante, fremente, o Maranhão de longa tradição literária, autenticamente literária, de João Francisco Lisboa, Gonçalves Dias, Humberto de Campos, Artur Azevedo, Aluízio Azevedo, Sousândrade, Coelho Neto, Graça Aranha, Odylo Costa, filho. Odylo foi uma espécie de mestre espiritual de José Sarney, que, jovem, fundara em São Luís a revista literária A ilha. E dirigira o suplemento literário do jornal O Imparcial.
Coronéis, beatos, cangaceiros sucedem-se nestas ficções maranhenses, que nos trazem duas epígrafes do padre Antônio Vieira, tão ligado ao Maranhão e seu povo e tão da intimidade intelectual de Sarney.
O livro apresenta nove estórias. Mas a grande personagem é o Brejal dos Guajas, isto é, dos Guajajaras. As primeiras histórias constituem um ciclo. E tudo se insere perfeitamente no melhor regionalismo do Brasil. E já se observou que Sarney utiliza o falar maranhense sem indicá-lo graficamente, porque o incorpora, o promove à língua geral. Lucy Teixeira o viu muito bem. Os termos regionais integram-se normalmente, organicamente, espontaneamente, na prosa dúctil de Sarney.
Logo na primeira das histórias de Brejal dos Guajás, vemos a dupla perspectiva — a visão política e a visão poética.
O Brejal era outrora uma dormida das boiadas que desciam de Goiás, em demanda da feira das Pombinhas. O velho Santos, o avô boiadeiro, ali descansava quando vinha do sertão alto, e nos campos e pastos do Brejal passava dias. No Brejal, o velho conseguira casar, já maduro, coisa que nunca o deixaram fazer antes a profissão e a mulherenguice.
A prosa é poética. Leve, rápida, envolvente. Sarney acolheu a lição de Stendhal — não insiste.
Brejal tranquilo, ajuntados alguns homens e mulheres e meninos naquelas duas ruas, só eles e as estrelas, impassíveis diante do mundo.
Sarney pertence a uma geração de grandes intelectuais, de poetas — a geração de Ferreira Gullar, Bandeira Tribuzzi, que delicadamente citou no seu primeiro discurso na ONU, Lago Burnett, Nauro Machado, Joaquim Campelo Marques.
E a vida popular do Maranhão vai surgindo, diante de nós, os costumes, a linguagem coloquial, a concretude da rotina. Há um conhecimento exaustivo das realidades miúdas. Há uma familiaridade absoluta entre o autor e seu povo.
As contendas ou futricas políticas. As conspirações, os fuxicos, as fofocas, o diz-que-diz, a banalidade do existir comezinho, o povo mais povo. Claro, a experiência política pessoal, de tantos anos, ajudou aqui o escritor.
Vemos a incrível duplicidade de prefeituras, a preparação das eleições, a agitada campanha eleitoral, com as cartas falsas, a solução genial do empate (com o voto em branco). Há comicidade nestas páginas e em tantas outras. Jocosidade. O riso espontâneo, le rire, de que nos falou Bergson.
Os Boastardes — Olegantino, Vitofurno, Mamelino — nos trazem uma descrição extremamente jocosa. São figuras algo diabólicas, delirantes. Há um sopro de tragédia, uma vocação para o desespero. Trata-se de novela muito condensada e forte.
Os Bonsdias são Rosiclorindo, Florismélio, Brasavorto. Seres dominados por manias. Estranhezas. Abusões. E vem a inacreditável e veracíssima história do casamento de três homens e uma só mulher.
Os Boasnoites chamam-se Amordemais, Dordavida, Flordasina.
Surgiram dessas terras e ninguém sabe donde vêm. Vêm do chão, cantam e riem, e galopam, sem pão e sem medo, bebendo e vivendo, que de beber e viver vivem.
Há aqui um íntimo conhecimento milimétrico da cantoria popular — a voz do povo aqui se faz ouvir, no seu canto mais espontâneo e genuíno. O povo canta e o escritor canta com o seu povo. Tudo é canto. E as histórias dos Boasnoites presos têm uma dimensão poética que as transfigura. A história das águas, a história das abelhas. “Êta Maranhão grande aberto sem porteira…”
As toadas do povo estão aqui na sua inteira vivacidade. Só o poeta poderia ter escrito estas páginas. O amor de Merícia e Pedroca é um capítulo inesquecível. Tão humano. Tão intenso. A morte dos amantes juvenis é uma cena poderosa.
A história dos Arrudas tem uma visualidade instantânea. Joaquim, José, Margarido. A violência impera. Ouvimos as balas. Beatinho da Mãe de Deus é o fanatismo. “A verdade é como o manto de Cristo: não tem costura”, palavra de Antônio José, lavrador em São José das Mentiras. Beatinho nos propõe as relações entre a religião e a política, entre a ordem espiritual e a ordem temporal.
Dona Maria Bolota nos traz de novo história de padre e de bispo, com a deliciosa venda do cavalo Maciço, depois da doação. Há um senso lúcido. Lucidade. O contista se diverte. E nos diverte. Sentimos que a sua cosmovisão é dominada pelo gosto de viver, pelo amor, uma visão positiva, uma visão marcada fundamente pela esperança. José Sarney é da vertente de Charles Péguy.
O político, o observador social, o ficcionista e o poeta se dão as mãos, na sua prosa ágil, veloz.
Rio de Janeiro, setembro de 1989.