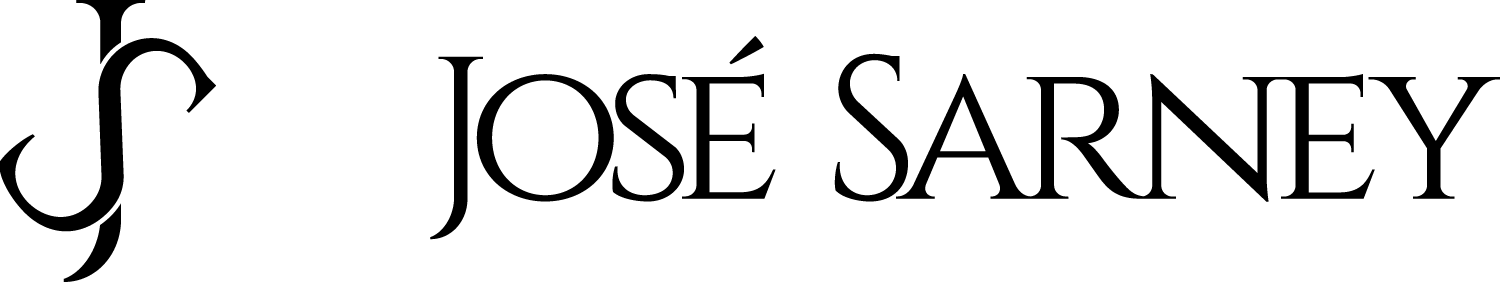Senado Federal, Brasília, DF, 19 de agosto de 1976
Bicentenário da Independência dos Estados Unidos da América
Está em nossas mãos recomeçar o mundo”— escreveu um inglês de Norfolk, antigo fabricante de peças de navio, e cuja alma era um demônio possuído pela paixão da liberdade. Emigrante na América, esta América de solidões e florestas do século XVIII, aí viria incendiar corações, popularizando o sonho da Independência. Esse homem se chamava Thomas Payne, temerário, audaz, panfletário, enfim, o tipo clássico de um ativista revolucionário, um exaltado. Seu livro tinha um título que era um convite à média das opiniões: Common Sense, o Senso Comum.
Ninguém nega que este homem tenha preparado a alma americana para compreender a decisão heróica da Independência. Mas, como língua de fogo, atiçou labaredas e, depois, sumiu. Como se quisesse pagar a contribuição da França às ideias que fizeram a Declaração da Independência, ei-lo cidadão francês, membro da Convenção de Paris, defendendo a cabeça de Luís XVI da guilhotina.
“Recomeçar o mundo” era o sonho. Criar um oásis para a liberdade era a tarefa. Seu apelo já não se restringia ao povo dos Estados Unidos. Este se tornava uma convocação ao mundo para uma religião cívica. Daí, esta dramática invocação:
“Oh! vós que amais a humanidade! Vós que ousais opor-vos não só à tirania, mas ao tirano, prossegui! A liberdade está proscrita em toda redondeza da Terra. Oh! Acolhei a fugitiva e preparai a tempo um asilo para a humanidade.”
O desejo de liberdade faz parte da história do homem. Os gregos contavam a história de Xerxes, vencedor das Termópilas, que colocara uma capa púrpura em cima do cadáver de Leônidas, seu adversário vencido. Leônidas recusou-a. Indagou Xerxes:
“Por que a recusas, se estás morto?”
Ele responde:
“A paixão da liberdade não perece.”
Os romanos já adoravam a Liberdade no monte Avantino e foi ela sempre uma aspiração desejada, mas nunca alcançado. É que fora impossível, até a Revolução Americana, criar-se um Estado baseado no autogoverno, num sistema federal, tendo como base o princípio da soberania popular.
“Anteriormente, já haviam existido repúblicas e democracias”, na afirmação de Morison-Commager, “mas nada que tornassem compatíveis a liberdade e o império sobre vastas extensões territoriais e no meio de interesses díspares”. A velha Europa, sempre perseguindo estes objetivos, estava devastada por cicatrizes históricas. Viveu tudo e inventou tudo. Recuperou a herança greco-latina, a hebraica e a violência bárbara. “A Renascença foi uma festa prodigiosa que se dançava ao som das melodias fúnebres”, diz Lapouge, acrescentando que de repente surge, além daqueles mares pouco conhecidos, um continente formado do nada, mas de extraordinária beleza, e é ali que nasce a formulação mais efetiva de um governo democrático, em que a ambição da liberdade encontra formas de organização estatal, capazes de modificar a história política do mundo. Esta, sem dúvida, a maior contribuição dos Estados Unidos à humanidade.
Srs. Senadores, é este fato que o Senado comemora hoje. Mais do que a Independência, a Declaração da Independência, mais do que a Declaração da Independência, a Constituição Americana, mais do que a Constituição Americana, o povo americano, capaz de construir, ao longo de duzentos anos, um país em que, em nenhum instante, essa luz primitiva foi negada.
E qual foi essa invenção nunca antes tentada? Lord Acton, Garão inglês, que passou a vida toda escrevendo e pensando escrever aquilo que nunca concluiu— uma História da Liberdade —, resume a resposta numa formulação singela ao afirmar que, “na América, as ideias simples de que os homens devem ocupar-se dos seus próprios negócios e de que a nação é responsável diante do Céu pelos atos do Estado irromperam com tal força avassaladora sobre o mundo a que estavam destinadas a transformar, com o nome de Direitos do Homem”.
Estas ideias não eram novas. Jefferson, o grande Jefferson, que as formulou de maneira tão clara muitas vezes, foi acusado de não as haver inventado. Ele não contestou esse fato, e, ao contrário, quando acuado por Pickering de haver bebido todas elas na fonte de um opúsculo de Otis, o mestre da Virgínia retrucou:
“Jamais li o panfleto de Otis, e se colhi minhas ideias em leituras e reflexões, não sei. Não considerei parte de minha função inventar praticamente novas ideias… Julguei meu dever, naquela ocasião, ser um auditor passivo da opinião dos outros.”
Talvez seja esta, sem dúvida, a base do ideal americano. É que, pela primeira vez, se organizava um governo baseado na vontade do povo, e essa vontade, por não ser unânime, era uma comunhão de vontades, e, por isso mesmo, síntese legítima dos interesses de todos. Paradoxalmente, a terra que acolhera os peregrinos do Mayflower, que fugiam de um mundo perdido pelo pecado e achavam que a humanidade estava destinada a se constituir apenas por dois lados — um condenado à salvação e outro à perdição — seria a terra de onde os homens baniram os sectarismos, para aceitar o direito igual de todos viverem em concórdia, quer fossem iluminados, quer pecadores. Mais tarde, quando os americanos tiveram de corporificar e resumir essas ideias num pacto constitucional, Dickinson anotaria que o sucesso da fórmula era ela ter sido “mais realista e objetiva que idealista e teórica”.
Os signatários do documento de Filadélfia de 1776 provaram que a liberdade democrática é viável, quando ela é uma aceitação, como legítimos, de todos os interesses que existem dentro de uma sociedade. Lá se reuniram os radicais e os conservadores. Todos cientes de que deviam ser firmes na “unanimidade que pudesse persuadir ou amedrontar o Governo britânico, obrigando-o a fazer concessões”. Mas, por outro lado, “deviam evitar a exibição de radicalismos ou espírito de independência que pudesse assustar os conservadores norte-americanos”. Era a política da espada e do ramo de oliveira. Eram os patriotas e os conservadores. Aqueles, assim chamados, pelo avanço de suas posições, quase sempre homens sem grandes cabedais, e estes, sem quererem desobedecer às leis do Império, mas sequiosos de liberdade.
Esta aliança de interesses foi a pedra fundamental da descoberta americana. O seu senso prático dava conteúdo prático às ideias que, há milênios, os homens buscavam colocar em execução. Nascia assim um sistema de convivência, de respeito pela maioria e pela minoria, mas nenhuma delas dona da verdade nem legítima, desde que não representasse legítimos interesses do povo. É o regime do checks and balances. No fundo, o sistema da liberdade.
É difícil examinar-se as consequências dos atos da História, sem viver-se o tempo em que aconteceram. A partir de sua interpretação, eles passam a ser a própria história, e não mais a fonte da história. Mas é preciso recordar-se, repetindo Brogan, que, quando a Constituição de 1787 foi elaborada, ainda existia a Monarquia Francesa; um Imperador Romano, a República Veneziana e uma República Holandesa; uma autocracia em São Petersburgo, um califa em Constantinopla, um imperador investido num mandato celestial em Pequim e um Xógum regendo o estado eremita do Japão em nome de um recluso, impotente e quase desconhecido Mikado. Todos mudaram, os poderes mudaram, mas os poderes nos Estados Unidos, desde os tempos do General George Washington, na Presidência, aos do atual Presidente Ford, mudaram menos que as formas de poder real ainda há pouco tempo existentes no Tibete
Esta longa sobrevivência é fruto da sagacidade. Nenhum regime pode ser criado sem se levar em conta os dados da realidade. Formas ideais, puras, sem mácula, sem defeitos, servem apenas para discursos, não para a tarefa de governar. É esta a lição americana. A democracia ali implantada nasceu no bojo de controvérsias e dúvidas, mas, já que elas existiam, foram pesadas e consideradas. Ao longo do tempo, o sistema foi moldando-se, adaptando-se, graças ao espírito do antis sectarismo e da não aceitação de imutáveis e absolutas verdades. Graças a essa visão, os americanos venceram a casa dividida, na Guerra da Secessão, aceitaram os intervencionismos, abriram as comportas dos direitos civis, exercitaram o balanço dos poderes e usaram da força para manter a ordem dentro da liberdade.
As transigências da Convenção de Filadélfia de 1776 e da Constituição de 1787 mostram que mesmo aqueles homens extraordinários somente conseguiram fazer obra duradoura porque sabiam não serem senhores de verdades eternas. A obra de estadista não comporta dogmatismos. Se os fundadores acreditassem em que a meia liberdade não é liberdade e não tivessem a convicção de que meia liberdade é o caminho da liberdade total, teria sido impossível construir-se a grande aventura americana. Os sectarismos, mesmo em favor da liberdade, atrofiam a liberdade.
Basta examinar-se os papéis da Independência para apreender-se o quanto de genial fizeram aqueles homens, aproveitando as concordâncias, evitando as discordâncias e, no fundo, plasmando um governo de convivência de ideias e posições. E esta tem sido a realidade americana, ao longo desses duzentos anos.
Foi possível, assim, na mesma Assembleia, ouvirem-se Hamilton e Washington, Franklin e Madison e todos os que tinham algo a contribuir. Ouçamos suas palavras com o sabor de duzentos anos, neste cenário de um mundo fragmentado, perplexo e fascinante e ao mesmo tempo dono de todas as forças do universo e de todas as fragilidades do homem.
Hamilton:
“O povo é turbulento e mutável, raras vezes julga ou determina com acerto… Só um corpo permanente é capaz de refrear a imprudência da democracia, cuja turbulência e disposição incontrolável exigem freios.”
E Madison:
“Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governo. Se os anjos devessem governar os homens não haveria necessidade de controles externos nem internos de governo. Na estruturação do governo que deve ser administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade está nisso: deveis, em primeiro lugar, permitir que o governo controle os governados; e, em segundo lugar, obrigá-los a controlar-se. Depender do povo é, sem dúvida, o principal controle do governo; mas a experiência ensinou à humanidade que são precisas precauções auxiliares.”
E o velho Benjamin Franklin, nos seus 81 anos, testemunha e autor de fatos e decisões que enchiam de glória a nação, vai assinar a Constituição. Não tem mais voz. Pede a James Wilson que leia as palavras escritas para aquele instante:
“Concordo com esta Constituição, apesar de todos os seus erros…”
E acrescenta:
“Quanto mais envelheço, tanto mais me é dado duvidar do meu julgamento e ter mais respeito pelo julgamento alheio…”
Assim, as dúvidas e conceitos divergentes alimentavam o novo regime. Era justamente na capacidade de equilibrá-los que residia a força de sua perenidade. Essa visão da liberdade seria uma constante, através dos anos.
O grande Washington, em 1793, ao despedir-se de seus concidadãos:
“Deixem-me… adverti-los, da maneira mais solene, contra os maléficos efeitos dos Partidos em geral. Servem sempre para dissolver os conselhos públicos e para enfraquecer a administração pública. Agitam a comunidade com doentios ciúmes e alarmes falsos; acendem as animosidades de uma parte contra outra; fomentam o tumulto e a insurreição…”
Mas, para ter a força moral de divergir, todos tinham a nação unida em torno daquela chama interior que, todo dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, nos mais diversos pontos e nos momentos mais cruciais, era e é repetida:
“Todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e, entre estes, estão à vida, à liberdade e à busca da felicidade.”
Essa expressão, busca da felicidade, traz palavras chaves, que, colocadas no lugar de propriedade, marcarão esse texto para a eternidade. Elas encerram tudo e abrem caminho para as aspirações maiores da vida.
No século XIX, inspiraram a abolição da escravatura, o direito de voto, os direitos trabalhistas, as conquistas sociais e os movimentos nacionais. O nosso grande Tiradentes tinha a Constituição Americana como inspiradora da insurreição mineira. A nossa República, quando foi instituída, o foi com os olhos voltados para o modelo dos Estados Unidos.
Para os norte-americanos, o grande fato deste ano é o da Independência; mas, para nós, o mais relevante para a cultura jurídica e política, é a Constituição adotada e cuja sabedoria e flexibilidade fizeram-na resistir e sobreviver aos embates que a envolveram, nesses dois séculos de existência. Sabedoria e flexibilidade que permitiram, no contexto de uma evolução nacional em ritmo até então desconhecido na Humanidade, se haja transformado, sem perder as características fundamentais, que julgo serem a preservação da União na Federação, o equilíbrio dos Poderes na sua diversidade e os direitos dos cidadãos dentro da igualdade e da liberdade. São de Bryce estas observações sobre o êxito dos idealizadores da Carta dos Estados Unidos:
“Não devemos jamais esquecer que os autores da Constituição atingiram o objetivo principal a que se tinham proposto… A Constituição no seu conjunto manteve-se e subsiste intacta. As balanças do poder continuaram a manter-se quase em equilíbrio. O Presidente não corrompeu e dominou o Congresso; o Congresso não paralisou nem ameaçou o Presidente… Se George Washington ressuscitasse, poderia ser um Presidente tão grande e tão útil quanto foi há um século. Em nenhum momento as liberdades do povo foram ameaçadas nem pelo Legislativo nem pelo Executivo. A União não destruiu os Estados. Não devemos, portanto, surpreender-nos de que sejam os americanos orgulhosos de um instrumento que permitiu atingir a esse grande resultado. E não é dos menores méritos o de haver-se feito ele amar.”
Lembro-me, a propósito, haver lido em Saint-Just que, “para fundar a República, era necessário fazê-la amada, pois somente assim sobreviveria. Os povos devem amar os regimes para que estes sejam duradouros.”
A sociedade americana, vigorosa, idealista, frequentemente generosa, extraordinária na sua unidade e consciência de sentimentos, sobreviveu, porque foi amada. “A vida americana”, escreveu o Presidente Wilson, “sofreu modificações radicais desde 1787, e quase todas as mudanças tiveram por efeito tornar a nação mais unida.” É admirável que, ao longo de duzentos anos, houvesse sido possível mudar preservando, e transformar conservando. Nem se diga que os anos correram tranquilamente. Longe disso. Foram árduas as lutas travadas.
Contudo, o verdadeiramente admirável e extraordinário é que, no curso de tão longo tempo, e sob a égide da mesma Constituição, tenha sido viável operar-se a transformação daquele frágil aglomerado de treze pobres Estados na maior potência dos nossos tempos. Disse Malraux “que há duzentos anos os Estados Unidos não eram nada, hoje representam a mais poderosa nação do mundo”. E que tudo isso se tenha operado sem convulsões sociais ou políticas, sem revoluções, sem solução de continuidade na ordem jurídica, é verdadeiramente admirável. “O Deus que nos deu a vida” — escreveu Jefferson nos primórdios da Independência — “deu-nos também a liberdade.” E a América pôde crescer, sem perder a liberdade. Como, sem perder a liberdade, enfrentou e venceu todas as intempéries.
Somente isso explicará que, em meio às múltiplas e graves vicissitudes que marcam a vida americana, haja sempre surgido do seio do seu povo a figura capaz de conduzir e preservar a nação. Passada a geração dos Fundadores, terá sido Lincoln, possivelmente, o primeiro líder providencial aparecido em hora de perigos extremos. Dir-se-ia o homem trazido pela mão da Providência. Na verdade, era o chefe adivinhado pelo voto popular, e a cuja ação, mais do que a qualquer outra, se ficaria devendo a permanência da União. Mesmo depois de morto, a sua palavra e o seu exemplo continuariam a projetar-se sobre a vida dos Estados Unidos. Quem, por exemplo, invocaria os conceitos emitidos, em 1858, no discurso da “casa dividida”, sem reconhecer que realmente não se pode sustentar uma casa dividida contra si mesma, metade rica, metade pobre, metade livre e metade escrava? Quem esquecerá as eloquentes palavras de Gettysburg — flama a iluminar a esperança do renascimento da liberdade, na convicção de “que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desaparecerá da Terra”?
Vencida, porém, a Guerra da Secessão, a América não demoraria em aflorar como grande potência, e como tal inevitavelmente envolvida e responsável por acontecimentos mundiais, que a forçariam a abandonar o isolacionismo por muitos acalentado. Malgrado a extraordinária potencialidade da nação que se formava e crescia, e talvez por isso mesmo, não foram fáceis as décadas que se seguiram, e às quais se deveu a fisionomia fundamental do povo americano. Mas, para cada período a nação pareceu encontrar o condutor adequado, fosse Andrew Johnson, Cleveland, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, ou Franklin Roosevelt, a quem se deveria o New Deal, certamente o mais audacioso plano até hoje realizado para salvar uma nação em colapso. O mais audacioso e o mais urgente. Conta-se que, certa feita, ao se opor, no Senado, à dilação de providências do New Deal, consideradas urgentes, dissera Harry Hopkins:
“Acontece que as pessoas, sem dor, não comem a longo prazo, e sim todos os dias.”
E rapidamente o New Deal revigorou a nação. Realmente, nos graves momentos de crise, a impaciência costuma dominar os espíritos inquietos e se torna impossível acenar-lhes apenas com as soluções do futuro, quando reclamam a satisfação de necessidades inadiáveis.
Um dia, em Hyde Park, discutindo Roosevelt com Churchill sobre a melhor maneira de manter-se a paz no Mundo, este dissera “consistir na aliança anglo-americana”. Ao que retrucou Roosevelt:
“Não, é a melhoria das condições de vida em todo o mundo.”
Verdade ainda hoje tão presente no espírito de todos os homens de boa vontade.
Os Estados Unidos ingressam agora no terceiro século de sua existência. Sobre seus ombros repousam as responsabilidades de liderar um mundo difícil. Não é por acaso que a nação, que é o mais antigo Estado organizado no mundo moderno dentro de princípios democráticos, seja também o país que mais altos índices de vida conseguiu, que venceu o desafio da unidade, que venceu a barreira dos direitos civis, que se tornou paladino das liberdades públicas, que evitou que o mundo sucumbisse à aventura fascista e que enfrentou a doutrina comunista, que colocou o primeiro homem na Lua, que com sua técnica ampliou de maneira significativa o bem-estar da Humanidade. E fez tudo isso dentro da liberdade, com a liberdade e para a liberdade.
Estranho país, este poderoso país, que no mundo de hoje recebe como a melhor definição para sintetizar sua força a frase de Brzezinski:
“É, em última análise, a América um país que tem o poder de criar um mundo que é hostil à sua presença.”
Recordo dois episódios nos quais pude sentir a presença dessa nação admirável e desse espírito de tolerância.
Em 1961, eu estava nos Estados Unidos. O Presidente Kennedy lançava o Peace Corps e falava aos primeiros jovens americanos que se engajavam nesse programa e os aconselhava a um comportamento sóbrio nos países em que iriam trabalhar. Recomendava que se comportassem como os nativos. “Comer como os nativos, vestir como eles se vestem, ter os hábitos que eles têm.” Mas, finalmente, ao velho e irônico gosto americano, fazia o apelo derradeiro:
“— Mas, eu vos peço, não apedrejem as embaixadas americanas como fazem os nossos amigos…”
A outra experiência foi mais recente. Eu visitava em 72 uma pequena cidade de Vermont. Era uma casa de amigos americanos. Depois do jantar, a conversa ao pé da lareira, num outono frio. Falou-se na Guerra do Vietnã. A dona da casa tomou a palavra. Aquela mulher, até então calada, de olhos firmes, de uma tranquilidade interior que eu nunca vira exaltada, começou a falar. Era uma crítica contundente à participação dos Estados Unidos naquela guerra sem glória. Suas últimas frases estavam cheias desse espírito inseparável da alma americana, que são os ideais da nacionalidade. E foi assim que dos seus lábios saiu à frase amarga:
“— Esta nação não foi fundada para isso.”
O drama do Vietnã tinha um gosto de sal para a alma americana. Mas foi esse mesmo espírito que permitiu à maior nação do mundo voltar os pés sob seus erros e compreender que maior do que a sua vitória era a glória de não manchar a sua história pelo massacre de um povo pequeno, esmagá-lo com seu poderio.
Vivemos num tempo da desmistificação da guerra e da paz. A civilização industrial vai durar ainda um milênio e, depois de consumir os recursos da Terra, voltar-se-á para um homem liberto das tormentas materiais, na busca da qualidade da vida. Quando se escrever a história dos nossos tempos, esse povo, o povo dos Estados Unidos, certamente terá contribuído decisivamente para que tenhamos chegado lá. Não pelos bens materiais que criou, pelas invenções, mas pelo verbo de suas ideias. Li, há algum tempo, no New York Times, que, no futuro, quando se falar dos anos 60, não se dirá que era o tempo da era atômica, mas o tempo do Juiz Warren, o que abriu a porta da Corte Suprema para os direitos civis.
O Senado do Brasil, guardião do princípio federativo do País, onde se equilibram os interesses regionais pela legitimidade de sua representação, muito deve aos princípios de governo gerados pela Independência dos Estados Unidos. A invenção do Senado e da Federação são frutos da Constituição Americana. Jefferson estranhou que ele tivesse sido criado, e Washington justificou-o. É a casa da conciliação, da igualdade dos Estados, é a Câmara revisora, é a responsável mais pelo futuro que pelo presente.
Nesta homenagem vai um compromisso. O compromisso de que o Brasil assume suas responsabilidades, no Hemisfério Sul, com os ideais que nos fizeram participantes, responsáveis da aventura de um mundo mais justo, mais humano, na busca da felicidade.
E nós, brasileiros, no orgulho de nosso País, ouvindo os versos de Walt Whitman, o mais americano de todos os seus poetas, que nos chamou para um destino comum:
“Wellcome, Brazilian brother — thy ample place is ready;
A loving hand — a smile froco the northm — a sunny instant hail!
(Bem-vindo sejas, irmão brasileiro — teu amplo lugar está pronto;
Um sorriso te enviamos do norte — mãos afetuosas — uma urgente saudação cheia de sol!)”
Nada melhor do que poder afirmar hoje que caminhamos juntos.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)